A REVISÃO AMAZÔNICA E BRASILEIRA A PARTIR DO NEGRO NO PENSAMENTO DE DALCÍDIO JURANDIR
Josiclei de Souza Santos
Dalcídio Jurandir, intelectual modernista amazônico, escreveu ao longo de quase quarenta anos o que ele chamou de Ciclo do Extremo Norte, um conjunto de dez romances sobre a Amazônia, em que figuram os conflitos, a cultura e vida das minorias do Marajó, de Belém e do baixo Amazonas. No referido ciclo, o autor fez um questionamento à tese da democracia racial brasileira, apregoada no Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, bem como afirmou a distinção racial nas representações de gênero, antecipando um questionamento que fez surgir décadas mais tarde o feminismo negro. Assim, em um momento em que muitos modernistas estavam empolgados com a tese de Freyre, o projeto romanesco dalcidiano foi uma voz dissonante, mostrando a falsificação da realidade presente no discurso da democracia racial brasileira. O reconhecimento desse falseamento, que Dalcídio Jurandir se propôs a demonstrar a partir de 1941, seria percebido por outros intelectuais do meio artístico somente décadas mais tarde. Além disso, o autor questionou a afirmação da quase ausência negra na Amazônia, afirmada por outros intelectuais, como José Veríssimo e Márcio Souza, mostrando haver uma afro-Amazônia ocultada da história oficial.
Na pesquisa sobre os estudos da afrodescendência na Literatura brasileira percebeu-se a crítica aos modernistas de diferentes gerações, por assimilarem um discurso que teve como expoentes Paulo Prado e Gilberto Freyre, e que relacionava a mestiçagem a uma suposta democracia racial brasileira. Segundo tais estudos, por conta disso, uma Literatura modernista propriamente afrodescendente no Brasil teria começado tardiamente. Mas a leitura da obra de Dalcídio Jurandir mostra que o mesmo teve uma postura crítica em relação ao discurso da mestiçagem e da democracia racial brasileira, que ficou mundialmente consagrado por meio de Gilberto Freyre, ainda na primeira metade do século. Não por acaso, o núcleo familiar central do ciclo dalcidiano possui um branco e uma negra, e um filho que seria a síntese da fórmula mestiça proposta por Freyre. Mas a adoção dessa fórmula não tem por finalidade a reprodução do discurso da democracia racial; o que se vê no texto dalcidiano é a desconstrução de tal mito e a denúncia de um racismo cotidianamente institucionalizado.
O núcleo familiar original do protagonista dos nove romances, Alfredo, é conformado por um pai branco, cujo passado da família se liga a um certo status, incluindo a posse de negros escravizados, e uma mãe negra, com antepassados que foram escravizados. Essa aproximação entre descendentes de escravizados e de escravizadores tentada por Freyre em Casa-grande & senzala é retomada no ciclo dalcidiano, por meio da união entre major Alberto e dona Amélia, mas desconstruindo a visão positiva daquilo que seria o núcleo da mestiçagem brasileira. Em dona Amélia vamos ter um problema já explorado na obra freyreana, que é a diferenciação simbólica entre a mulher branca e a negra, mas o que é em Freyre uma diferença gradativamente superada com o processo de mestiçagem, em Dalcídio é um problema ainda não resolvido para as mulheres negras.
Já no modo como os dois personagens se uniram percebe-se uma herança da relação entre os brancos e as negras, pois dona Amélia, apenas convidada para “morar” com ele, é chamada pelas mulheres brancas de esposarana, ou seja, quem não é esposa legítima. Assim Major Alberto teria uma “viuvez sossegada”, pois teria uma companhia sem precisar contrair um matrimônio oficial. A condição da mãe de Alfredo, de esposa não oficializada, ela mesma identificada com uma função de trabalho doméstico, reproduzindo o passado de cama e mesa de muitas negras do período da escravidão, vai incomodar o protagonista dos nove romances do Ciclo do Extremo Norte, e filho dos dois personagens acima referidos. Ele deveria representar a síntese proposta por Gilberto Freyre, no entanto, o que o autor mostra em seu projeto romanesco é justamente a desconstrução do mito do cadinho brasileiro oriundo das três raças, expondo como o racismo é algo institucionalizado no cotidiano nacional, gerando em Alfredo uma crise identitária, a princípio. Assim, o autor questionou a tese freyreana da síntese mestiça, apontando-a como estratégia ocultante por parte das classes dominantes das diferenças de classe que se ligavam e se ligam à questão racial no país.
Os anos consagrariam a obra do antropólogo pernambucano. Sua proposta mestiça de cadinho brasileiro seria logo abraçada pelo Estado, por outros intelectuais e artistas, como forma de resolver ou amainar possíveis reivindicações de negros que se sentissem prejudicados pelo modo como se deu o fim da escravidão. A obra de Dalcídio Jurandir, por seu turno, durante um tempo ficaria sem grande visibilidade, mas agora, com o debate público em torno da existência ou não do racismo brasileiro, causado muitas vezes pelas tentativas dos governos em propor políticas reparatórias a essa grande parcela da população, fruto de reivindicações de movimentos sociais, percebemos o quanto a obra de Dalcídio Jurandir é atual e seu não alinhamento com a tese freyreana é coerente, servindo de ferramenta para se ter uma leitura mais profunda da realidade brasileira.
No que diz respeito à questão do negro na Amazônia, há uma tradição intelectual que nega a importância desse elemento para conformação cultural amazônica. José Veríssimo foi um deles, afirmando, assim, um cadinho euro-indígena amazônico. Mas, ao mesmo tempo em que esboça o homem amazônico como resultado do contato do indígena com o europeu, o autor afirma haver uma pouca importância do africano para a conformação dessa identidade amazônica.
O elemento que nos veio escravizado, o qual tanto concorreu para nosso progresso material e para a nossa degradação moral, [...] foi suplantado no vale do Amazonas pelo indígena, cuja língua aqui levou de muito a melhor na luta que se travou com a dele, o que não aconteceu sempre no Sul, não só com a deste, como com a portuguesa, obrigada a aceitar em boa cópia materiais africanos (VERÍSSIMO, 2013, p. 36).
O excerto mostra que, para Veríssimo, o africano teve pouca participação no vale do Amazonas no que diz respeito ao falar, creditando à herança indígena a contribuição para a identidade linguística do homem amazônico, ignorando as contribuições afrodescendentes para o vocabulário e para a cultura na região. Veríssimo chega a afirmar, no referido estudo, que o africano teria legado à Amazônia somente dois vocábulos.
Uma importante voz contemporânea que reforçou o mito euro-indígena de Veríssimo durante a segunda metade do século XX foi o escritor e sociólogo Márcio Souza. O autor persistiu na afirmação de Veríssimo sobre a ausência da participação afrodescendente no universo cultural amazônico. Segundo ele, “o braço negro escravo era irrelevante nessa terra de pomar e óleo de tartaruga” (SOUZA, 1994, p. 108).
Souza buscou recuperar o caráter histórico da Amazônia, propondo até mesmo uma história e uma formação econômica para a região diferente das do Brasil, propondo uma economia extrativista de trabalhadores livres, em oposição ao trabalho escravo dos engenhos. Dentro desse processo de percepção histórico-econômica diferenciada em relação ao restante do Brasil, se operou mais uma vez a diminuição do homem afro-amazônico e uma repetição da tese da essência tapuio-cabocla da identidade do homem da região, fruto do contato do indígena com o europeu na Amazônia, proposta por Veríssimo. O autor, em mais de uma obra, faz a mesma afirmação, tentando transformar em rito o mito do homem amazônico, na esteira de Veríssimo. Com a diferença de que Veríssimo, para sua tese, explora mais o aspecto cultural e biológico, enquanto que Souza explora mais o campo da História econômica dos ciclos de exploração. Mas Dalcídio Jurandir recoloca na Amazônia os engenhos, seja nas cercanias de Belém, seja no Marajó dos campos. Na obra Belém do Grão-Pará (1960), o narrador apresenta, ante a imagem da rocinha, os pensamentos que misturam imaginação e memórias da personagem Mãe Ciana. Dalcídio Jurandir mostra, a partir dessas memórias, que sob a aparência europeia das ricas construções coloniais, estava o trabalho de muitos mestres negros escravizados em diferentes ofícios, mostrando a espoliação que a escravidão representou para os afrodescendentes. Assim, Dalcídio Jurandir une a pesquisa histórica à memória para mostrar que, diferentemente do que afirmam autores como Márcio Souza, houve engenhos na Amazônia, com uma economia baseada na força de trabalho escravizada.
No que diz respeito à exposição das diferenças entre mulheres negras e brancas, temos o fato de a união de dona Amelia com major Alberto não ser aceita pela comunidade, por ser ela negra, e tratar-se Alberto de um branco, pertencente a uma família tradicional. No romance Três casas e um rio (1958) há um episódio marcante que ilustrará a diferença simbólica entre mulheres negras e brancas no universo pós-colonial. Trata-se do conflito entre D. Amélia e D. Finoca Gouveia, após esta ter espalhado rumores de que Alfredo não seria filho de Major Alberto,
Não se lembra do que disse? Pois eu lhe repito para despertar a sua memória. A senhora disse que este, o Alfredo, não era filho do seu Alberto, mas do Rodolfo. (...) Agora soube.
— Se a senhora botar o pé na rua ou me deixar entrar nessa casa,(...), o menos que faço é arrancar essa sua língua da boca pela raiz. Arranco a dente ou a unha. Venha agora examinar meu filho, pra saber... Venha! Traga seu melhor carbureto para examinar a pele do menino e saber de uma vez para sempre, quem é o verdadeiro pai dele!
Alfredo gritou para que sua mãe calasse (...) Presa à mão do filho, d. Amélia se inclinara para a janela de onde ouviu:
— A que ponto já chegamos que uma negra...
Rápida, afastando Didico e o filho, d. Amélia avançou para a janela e cuspiu grosso e violentamente no rosto da senhora. (JURANDIR, 1994, p. 128-129).
A fala da senhora branca evidencia a divisão social entre brancas e negras. Dalcídio Jurandir é um dos primeiros romancistas que problematizam essa diferença, tão naturalmente disseminada na Literatura desde Gregório de Matos, ligando a representação da raça a não somente questões econômicas, mas a valores morais de decência ou promiscuidade. Tal atitude distancia Jurandir de autores freyreanos como Jorge de Lima e sua Nega Fulô.
REFERÊNCIAS
BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão negra na Amazônia (sécs. XVII-XIX). Belém – PA: Paka-Tatu, 2001.
DUARTE, Eduardo de Assis. Literatura Afro-brasileira: um conceito em construção. In AFOLABI, Niyi; BARBOSA, Márcio; RIBEIRO, Esmeralda (orgs.) A mente afro-brasileira. Trenton-NJ, EUA / Asmara, Eritréia: África World Press, 2007, p. 103-112.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Trad. Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.
FREYRE, Gilberto. CASA-GRANDE & senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. 20 ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2005.
FURTADO, Marli Tereza. Universo derruído e corrosão do herói em Dalcídio Jurandir. Campinas, SP: [s.n.], 2002.
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2003.
JURANDIR, Dalcídio. Chove nos Campos de Cachoeira. 3. ed. Belém: Cejup, 1991.
_______. Marajó. 4. ed. edição. Belém: EDUFPA; Rio de Janeiro: Casa Rui Barbosa. 2008.
_______. Três casas e um rio. 3. Ed. Belém: CEJUP, 1994.
_______. Belém do Grão-Pará. Belém: EDUFPA; Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2004.
_______. Passagem dos Inocentes. Belém: Falângola, 1984.
_______. Primeira Manhã. Belém: Marques Editora, 2016.
_______. Chão dos Lobos. Rio de Janeiro: Record, 1976.
_______. Os Habitantes. Rio de Janeiro: Artenova, 1976
_______. Ponte do Galo. São Paulo: Martins; Rio de Janeiro: INL, 1971.
_______. Ribanceira. Rio de Janeiro: Record, 1978.
_______. Problemas - revista mensal de cultura política, nº 14 - outubro de 1948
________. O Estado do Pará, junho de 1935.
LEAL, Luiz Augusto Pinheiro. Nossos intelectuais e os chefes de mandinga: repressão, engajamento e liberdade de culto na Amazônia (1937-1951). Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, Salvador, 2011, 231 fl.
LOBO, Luiza. Crítica sem juízo. Rio de Janeiro: Francisco Alves,1993.
MAYORGA, Claudia. As críticas ao gênero e a pluralização do feminismo: colonialismo, racismo e política heterossexual. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, vol. 21, n.2, p. 463-484, maio-agosto. 2013. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104026X2013000200003/25775
NUNES, Benedito. Dalcídio Jurandir: romancista da Amazônia. Literatura & Memória. Belém Pará, SECULT/FCRB/IDJ, 2006.
PRADO, Paulo. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1985.
SALLES, Vicente. O negro no Pará sob o regime da escravidão. 3 ed. Belém: IAP; Programa Raízes, 2005.
______. O negro na formação da sociedade paraense. Belém: Paka-Tatu, 2004.
______. Vocabulário Crioulo contribuição do negro no falar regional amazônico. Belém: IAP, 2003.
______. Chão de Dalcídio. In. Asas da Palavra: Revista de Graduação em Letras, v. 13, n, 26, 2010-2011. Semestral.
SOUZA, Márcio. A expressão amazonense: do colonialismo ao neocolonialismo. São Paulo, Alfa-Omega, 1977.
_______. Breve História da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.
VERÍSSIMO, José. Cenas da vida amazônica. 4. ed. Belém – PA: Estudos Amazônicos, 2013.
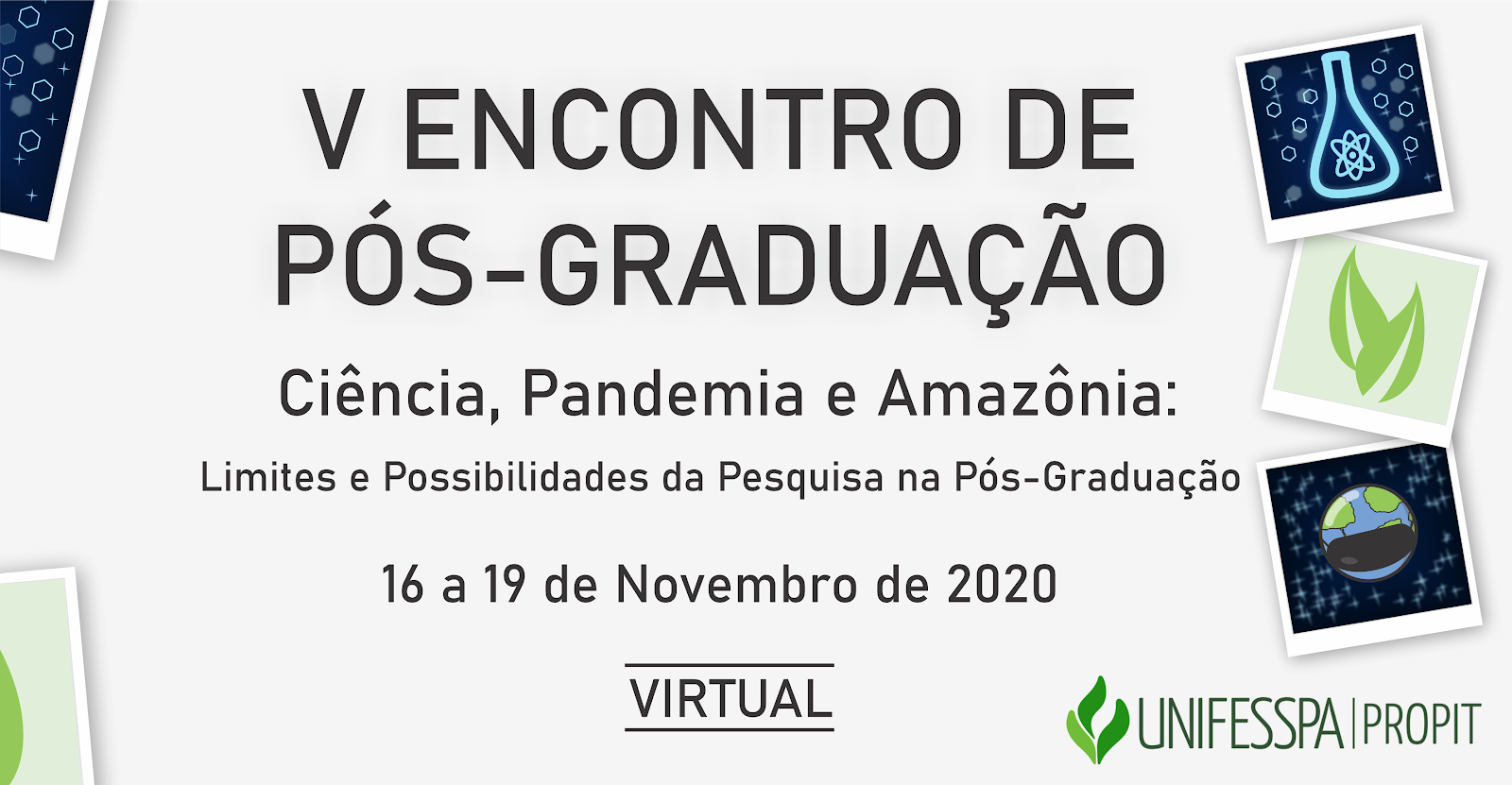
Parabéns, Jociclei! Li o seu trabalho com muita atenção e prazer! Muito interessante esse paralelo entre a obra de Gilberto Freyre e Dalcídio Jurandir. Principalmente nesse momento onde precisamos constantemente refletir sobre a questão do racismo, é primordial descontruir essa ideia de que as diferenças entre a mulher branca e a negra é uma questão superada, precisamos sim, discutir essa temática, haja vista que o problema ainda não foi resolvido.
ResponderExcluirIrismar da Silva de Sousa
Muito obrigado. Trata-se de uma pesquisa ainda em andamento. Espero poder contribuir mais para o debate.
ResponderExcluir