AS MEMÓRIAS CULTURAIS EM NIKETCHE: UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA
Thuany Silva Martins
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O livro Niketche: uma história de poligamia que servirá para embasar esta análise, trata-se de um romance produzido pela escritora moçambicana Paulina Chiziane e teve sua primeira edição lançada em 2002 em Moçambique pela editora Caminho. O nome “Niketche” refere-se a uma dança tradicional da região norte de Moçambique, mais precisamente da Zambézia e Nampula. É “uma dança do amor, que as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo, para afirmar: somos mulheres. Maduras como frutas. Estamos prontas para a vida!” (CHIZIANE, 2004, p. 160).
A obra é narrada em primeira pessoa pela protagonista desta história, Rami. Portanto, sua trajetória é contada a partir do seu ponto de vista, uma mulher que passados vinte e poucos anos de casada, descobre que seu marido Tony, é um homem polígamo e que o mesmo possui outras quatro mulheres. A partir disso, Rami decide sozinha ir atrás delas para conhecê-las.
Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Saly a apetecida, é a quarta. Finalmente a Mauá Sualé, a amada, a caçulinha, recém-adquirida. (CHIZIANE, 2004, p. 58)
Cada uma dessas mulheres vem de regiões distintas de Moçambique, elas possuem etnias diferentes o que contribui para os diversificados contornos que a história assume, por situarem em regiões diferentes cada uma lançará um olhar específico sobre o modo de ver e fazer as coisas.
2. A IMPORTÂNCIA DAS MEMÓRIAS
A memória tanto individual, quanto coletiva é o alicerce para o desenvolvimento deste romance. A protagonista, assim como as demais personagens estão o tempo todo suscitando consciente ou inconscientemente memórias que remontam tempos passados. Nesse sentido, o historiador Jacques Le Goff comenta:
Finalmente, os psicanalistas e os psicólogos insistiram, quer a propósito da recordação, quer a propósito do esquecimento (nomeadamente no seguimento de Ebbinghaus), nas manipulações conscientes ou inconscientes que o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, a censura exercem sobre a memória individual. Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 1990, p. 426)
Um dos fatos que vão culminar na retomada das memórias coletivas é a descoberta que Rami faz sobre Tony ser um homem polígamo. Embora ele já fosse casado com ela, vale lembrar que era um matrimônio católico “O meu lar cristão que se tornou polígamo” (CHIZIANE, 2004, p. 95), a relação que ele tinha com as outras mulheres não estavam de acordo com as práticas tradicionais, conforme expõe a fala de Rami
Que pena o Tony ter agido sozinho e informalmente, sem seguir a normas [...] É um sistema, um programa. É uma só família com várias mulheres e um homem, uma unidade, portanto. No caso do Tony são várias famílias dispersas com um só homem. Não é poligamia coisa nenhuma, mas uma imitação grotesca de um sistema que mal domina. (CHIZIANE, 2004, p. 94)
Assim como há regras preestabelecidas na monogamia, a poligamia também deve ser regida por leis. Cabe destacar, no que se refere a tradição, Tony pretensiosamente lembrou-se apenas do que lhe convinha. De maneira que, enquanto ele estivesse nestes relacionamentos clandestinamente, não lhe seriam direcionadas obrigações legais. A maneira como ele agiu, o possibilitou burlar o sistema favorecendo apenas a si mesmo.
A poligamia é um sistema com filosofia de harmonia. Uma mulher parte para o lar, sabendo que não será a única. Levaste-me ao altar e fizeste um falso juramento. Assinaste uma lei contrária aos teus desejos. Entraste neste sistema desconhecendo as normas, traindo-me a mim e a todas as outras. (CHIZIANE, 2004, p. 331)
Entretanto, por ela ter crescido imersa nos costumes cristão, Rami não estava familiarizada com as práticas da poligamia “Tinha aulas na igreja, com os padres e as freiras. Acendi muitas velas e fiz muitas rezas.” (CHIZIANE, 2004, p. 35). Mesmo assim, Rami se incumbe de arranjar o relacionamento poligâmico mediante a rememoração da tradição, ela cita “Para o homem casar de novo, a esposa anterior tem que consentir, e ajudar a escolher” (CHIZIANE, 2004, p. 94). Nesse percurso, ela consulta outras mulheres que experienciaram os rituais a que deve ser submetida a união poligâmica. Neste caso, deve ser feito o lobolo para legalizar o vínculo com as outras esposas.
A minha sogra fez de si uma flecha. Insurgiu-se contra os bons costumes da família cristã e tornou-se agente de regresso às raízes. Não encontrou nenhuma resistência. O ciclo de lobolos começou com a Ju. Foi com dinheiro e não com gado. [...] Depois fez-se lobolo da Lu e dos filhos. As nortenhas espantaram-se. Essa história de lobolo era nova para elas. Queriam dizer não por ser contra os seus costumes culturais. (CHIZIANE, 2004, p. 124)
O resgate que se faz sobre como deve ser realizado este ritual, recria uma prática que tem sido feita por gerações anteriores, e é passada adiante por meio das memórias que se consolidaram nessas culturas.
3. TRAUMA E TESTEMUNHO
Outro marco significativo na história de Rami é registrado quando seu marido, Tony é dado por morto. Pois, quando a mulher lobolada fica viúva ela deve passar por um ritual de kutchinga, isto é, um ritual de “purificação sexual” Rami anuncia “Dizem que se deve cumprir à risca com todas as tradições da morte. É preciso voltar às raízes” (CHIZIANE, 2004, p. 212). Diante disso, oito dias após o seu marido ser julgado morto, Rami é obrigada a passar pela cerimônia do Kutchinga, ela explicita
Nada me dizem. Arrancam-me a roupa, quase que a rasgam. Cobrem-me com uma manta grossa de algodão e submetem-me ao banho de vapor. Transpiro, queimo. Meu Deus, elas querem-me esfolar. Meu Deus, elas vão me estripar. Esfregam-me o corpo todo com ervas, como uma panela suja com fumo de carvão. Acabam de fazer O banho. — Onde está a minha roupa? Silêncio. Cobrem-me com um lençol branco e me arrastam para o quarto ao lado. Nas paredes, cortinados verdes. Fumo de incenso. No chão, um tapete de folhas frescas, como se lá tivessem caído todas as folhas do mundo. Arrancam-me o lençol, saem do quarto e deixam-me só, tal como nasci. Meu Deus, o que querem de mim? Que mal é que eu lhes Fiz? Dentro de mim explode um grito estrondoso, forte, dinamítico. Com as conchas das mãos, cubro-me inteira do frio e da vergonha. (CHIZIANE, 2004, p. 224)
Neste ponto, é importante salientar que pouco depois do processo de kutchinga na Rami, Tony aparece e procede com uma série de perguntas [a respeito do ocorrido em sua ausência] que vão ao encontro do que o teórico Márcio Seligmann-Silva defende a respeito do testemunho, leia-se
Essa ética e estética da literatura de testemunho possui o corpo – a dor – como um dos seus alicerces. (...) Os seus limites físicos tornam-se a garantia de uma nova moral. É o corpo também que serve de suporte para a nova cartografia mnemônica. (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 111- 112)
Com isso, é válido evidenciarmos a resposta de Rami “—Vi a tua morte e fui ao teu funeral — desabafo. — Usei luto pesado. Os malvados da tua família até o meu cabelo raparam. Até o kutchinga, cerimónia de purificação sexual, aconteceu.” (CHIZIANE, 2004, p. 227)
Tony prossegue com os questionamentos “— Não reagiste, não resististe?”(CHIZIANE, 2004, p. 227), nessa ordem Rami responde “— Como? É a nossa tradição, não é?”(CHIZIANE, 2004, p. 227). Nota-se, no que concerne a sua reputação de marido, Tony esperava que Rami não cede-se aos rituais da tradição para que a moral dele não ficasse comprometida, pouco importando como é o costume perpassados cotidianamente no contexto em que ele está inserido.
Reiterando as falas de Rami acima mencionadas, ao rememorar o que aconteceu, ela ampara seu testemunho em vívidas lembranças que podem também ser percebidas pelas marcas em seu corpo,
— Ah, Tony! Estou magra, desfigurada, acabada. Careca. Raparam-me o cabelo com navalha, como uma reclusa. Deserdaram-me de tudo como uma criminosa. Na cabeça rapada colocaram-me uma coroa de espinhos. Um ceptro de espinhos. Varreram a casa e deixaram este tapete de espinhos. “ (CHIZIANE, 2004, p. 228)
Dialogando com a colocação de Selligmann-Silva acerca do testemunho, Jeanne-Marie Gagnebin conceitua sobre trauma “É próprio da experiência traumática essa impossibilidade do esquecimento, essa insistência na repetição.”(GAGNEBIN, 2006, p. 99), no que tange esse tema a filósofa tece “O trauma é a ferida aberta na alma, ou no corpo, por acontecimentos violentos, recalcados ou não [...] a temática do trauma torna-se predominante na reflexão sobre a memória.” (GAGNEBIN, 2006, p. 110) Ou seja, por mais que a Rami conte seu marido o que ela vivenciou, as experiências pelas quais ela passou não são compreendidas integralmente por ele.
Em consonância com o que Jacques Le Goff diz a respeito da memória individual o sociólogo Maurice Halbwachs argumenta
Consideremos agora a memória individual. Ela não está inteiramente isolada e fechada [...] Ele se reporta a pontos de referência que existem fora dele, e que são fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou e que emprestou de seu meio. Não é menos verdade que não nos lembramos senão do que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num momento do tempo, isto é, que nossa memória não se confunde com a dos outros. Ela é limitada muito estreitamente no espaço e no tempo. A memória coletiva o é também: mas esses limites não são os mesmos. Eles podem ser mais restritos, bem mais remotos também. (HALBWACHS, 1990, p. 54)
Quando a protagonista narra os fatos sua descrição se ancora em elementos externos, sua história se constitui a partir do que ela viveu socialmente. Em outras palavras, as memórias de Rami podem ser facilmente trazidas à tona quando ela estiver em contato com pessoas que estiveram envolvidas no processo do kutchinga e também quando ela estiver no local em que ocorreu esse fato, assim como cheiro e outros elementos extrínsecos a personagem podem contribuir para que as memórias dela sejam ativadas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura desta história possibilitou vislumbrar a mescla cultural que compõe Moçambique, dada a riqueza de elementos que a autora imprime neste livro. Chiziane articula com maestria a dualidade que se faz presente no contexto pós-independência em que o livro foi construído. Mediante aos pontos abordados neste trabalho, tornou-se imprescindível não evidenciar percurso e os desdobramentos da personagem principal. Ao passo que, as estruturas sociais que regem o contexto dela, se assemelha ao de muitas outras mulheres, pois não podemos desconsiderar que nossa sociedade é construída em cima de pilares patriarcais, que subjugam as mulheres a todo momento.
NOTA BIOGRÁFICA
Thuany Silva Martins mestranda no Programa de Pós-Graduação de Letras na área de Linguagem, Cultura e Sociedade, vinculada a linha de pesquisa Objetos Culturais e Produção de Sentidos da Universidade Federal de Lavras. Possui graduação em Letras Português/Inglês e suas respectivas Literaturas (2019) pela Universidade Federal de Lavras.
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis Possui graduação (2006) em Letras (Português/Literaturas) pela Universidade Federal Fluminense (2006), mestrado em Estudos Literários (subárea - Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa) pela Universidade Federal Fluminense (2008) e doutorado em Estudos literários (Literatura Comparada) na Universidade Federal Fluminense (2013). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de Lavras-MG, onde atua na graduação do Curso de Letras presencial e à distância (Departamento de Estudos da Linguagem - DEL). Tem experiência na área de Literatura Comparada, com ênfase nas relações entre Literatura, História e Memória nas Literaturas de Língua Portuguesa, especialmente nas Literaturas Portuguesa, Angolana e Moçambicana, em Estudos Culturais e Teoria Pós-colonial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CHIZIANE, Paulina. Niketche: uma história de poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. O que significa elaborar o passado? In: Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006. p. 99-110
HALBWACHS, Maurice. Memória autobiográfica· e memória histórica: Sua oposição aparente. in: A Memória coletiva. Trad. de Laurent Léon Schaffter. São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais, 1990. p. 54.
LE GOFF, Jacques. Memória. In: História e memória. Tradução de Bernardo Leitão et al. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990. p.426.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. Quando o tempo para: fragmentos de uma infância. In: O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: Editora 34, 2005. p. 111-112.
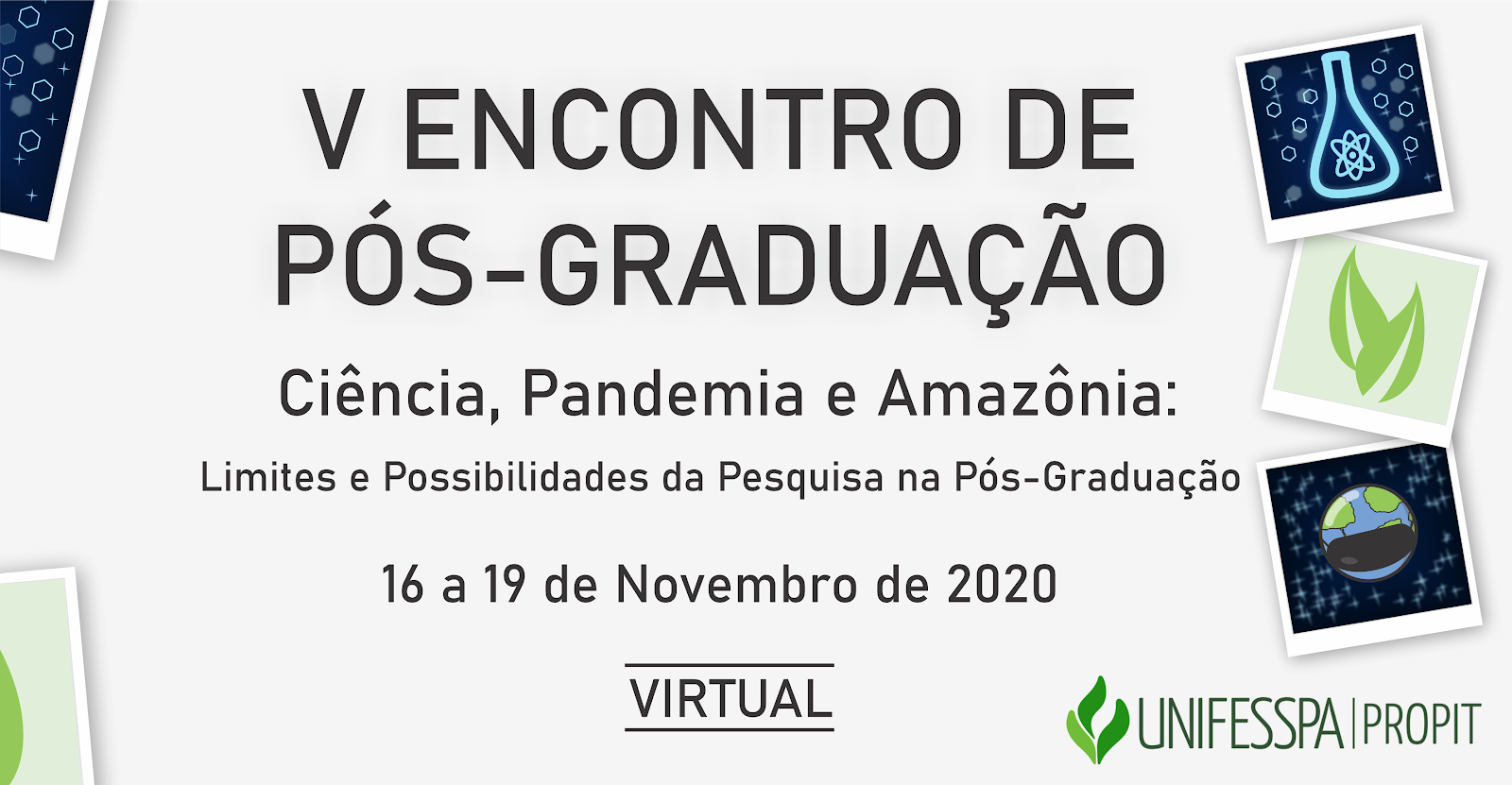
A partir do texto em questão é possível então argumentar que a poligamia é de cunho cultural e pode ser confrontada aos costumes cristãos monogâmicos, também culturais, para fundamentar uma análise da inexistência de um padrão fixo para humanidade quanto aos relacionamentos amorosos?
ResponderExcluirSara Brígida Farias Ferreira
Pierrey Levy fala de ecológicas cognitivas. É possível encontar elementos que confirme sua teoria nesse texto que são as ações do ritual de purificação que favorecem as lembranças a partir dos cheiros, dos objetos, etc
ResponderExcluirMacilene Borges
Pierrey Levy fala de ecológicas cognitivas. É possível encontar elementos que confirme sua teoria nesse texto que são as ações do ritual de purificação que favorecem as lembranças a partir dos cheiros, dos objetos, etc.
ResponderExcluirMacilene Borges da Silva Cardoso
macilenecardoso@gmail.com
Boa noite. Achei muito interessante a escolha da fonte e a análise inicial realizada.
ResponderExcluirGostaria de compreender melhor a questão da articulação das memórias individual e coletiva na construção da sua narrativa, levando em conta que o livro analisado trabalha dentro dessa dualidade, ainda que as diferenças culturais dentro de Moçambique sejam o ponto central.