LAÇOS DA MEMÓRIA EM UM DEFEITO DE COR, DE ANA MARIA GONÇALVES
Jessiara Ribeiro Gonçalves, graduanda em Letras – Português e Inglês, Universidade Federal de Lavras (UFLA), ribeirojessiara@gmail.com.
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis, professora doutora, Universidade Federal de Lavras (UFLA), robertafranco@ufla.br.
A literatura, assim como outras manifestações artísticas, possui uma grande significação e valor social, e devido a isso é imprescindível entendê-la para compreender um pouco da sociedade na qual ela se encontra e quando falamos de literatura contemporânea é preciso pensar sobre o que ela é e quais são as suas principais características para, assim, entender quais os seus verdadeiros propósitos como expressão literária.
Pensando nisso, pode-se entender a literatura contemporânea como aquela que busca retratar uma determinada realidade, que até então permanecia na obscuridade, e, para isso, busca no passado formas de reler os acontecimentos e expor os problemas sociais, assim, afirma Karl Erik Schøllhammer que “o escritor contemporâneo parece estar motivado por uma grande urgência em se relacionar com a realidade histórica, estando consciente, entretanto, da impossibilidade de captá-la na sua especificidade atual, em seu presente” (2009, p.10).
A obra Um defeito de cor, da escritora Ana Maria Gonçalves, foi lançada em 2006 e conquistou o importante Prêmio Casa de Las Américas de 2006 como melhor romance do ano, faz parte do conjunto de obras da literatura contemporânea e, dentro desse panorama, se tratando de uma metaficção historiográfica (HUTCHEON, 1991) faz uma releitura do passado com uma postura crítica que questiona a realidade histórica determinada até o momento, desenvolvendo um novo olhar a partir de perspectivas do presente.
Na narrativa de Ana Maria a protagonista Kehinde conta a sua história durante quase cem anos de sua vida, de 1810 a 1877. Iniciando aos seis anos de idade quando vivia com sua família no Reino de Daomé e foi capturada para ser escravizada em terras brasileiras, junto com sua irmã gêmea Taiwo e sua avó Dúrójaiyé. Ao longo dos dez capítulos que compõem o livro o leitor é levado a adentrar não somente na história de Kehinde, mas também de muitas pessoas que foram retiradas de suas terras para serem escravizadas no Brasil no século XIX. Na obra, não são retratados apenas fatos da rotina dos personagens como pessoas escravizadas, mas também de seus costumes, culturas, amores e sofrimentos com uma perspectiva de não homogeneidade, ressaltando as especificidades das relações entre os povos negros e os homens e mulheres brancos da época. Dessa forma a obra constrói uma verdadeira reconstituição do período escravocrata através da visão do que Linda Hutcheon chama de ex-centricos, ou seja, aqueles que são “inevitavelmente identificado com o centro ao qual aspira, mas que lhe é negado” (1991, p.88), em que se situa todos os grupos sociais que são colocados à margem na sociedade e, até o momento, permaneciam também à margem na literatura, devido a razões como preconceitos raciais, de gênero e orientações sexuais, por exemplo.
Durante toda a obra Um defeito de cor Kehinde desenvolve uma narrativa memorialística ao escrever uma carta para o seu filho desaparecido, de forma que ela vai relembrando toda a sua vida, e daqueles que fizeram parte dela, com riqueza de detalhes para que o seu filho tenha conhecimento da sua história e de toda a jornada que ela percorreu em sua procura, uma vez que ele foi vendido ilegalmente pelo pai para ser escravizado.
A memória é um componente importante para as produções da literatura contemporânea, pois trata-se de uma “operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar” (POLLAK, 1989, p. 9) e se constitui a partir de movimentos, conscientes ou não, de definir acontecimentos passados, sentimentos e culturas de uma pessoa, comunidade ou grupo. Dessa forma, pode ser um instrumento de revisitação e de questionamento do passado, assim como a literatura contemporânea e, além disso, é considerada uma nova forma de estudo do passado após movimentos como o da Nova História, em que o estudo da história é visto com amplitude e não se delimita somente pelas perspectivas econômicas e políticas, por exemplo, assumindo uma abrangência, ao passo que pode-se notar um interesse “por virtualmente toda a atividade humana” (BURKE, 1992, p.2).
A narrativa tem como plano de fundo o período escravocrata, em que muitos acontecimentos históricos moldaram a vida da sociedade, principalmente dos escravizados, e devido a isso uma das esferas da memória muito presente na obra é a memória histórica, pois, muitos elementos da história do Brasil são narrados pela protagonista. E, uma vez que, podemos entender a memória histórica como uma forma de representação do passado que abrange a vida de todas as pessoas, como afirma Halbwachs (1990), pode-se concluir que a própria vida de Kehinde traz consigo elementos da história, mesmo se tratando de uma narrativa que contém ficcionalidade.
Durante a narrativa é possível perceber que há uma de rememoração da história dos negros que muitas vezes foi “esquecida” em obras de outros escritores ou, até mesmo, na historiografia. Como é o caso das reais condições em que as pessoas fizeram a travessia do atlântico no navio tumbeiro e a imposição das normas da religião católica juntamente com a anulação das identidades dos indivíduos que chegaram em terras brasileiras para serem escravizados, por exemplo. Nos relatos de Kehinde é possível perceber uma voz que valoriza as minúcias de todos os acontecimentos, demonstrando que todos os detalhes são importantes para a rememoração deles e para a construção de uma história.
É possível perceber também a presença de uma memória que está muito relacionada ao silêncio, por se tratar de memórias que são carregadas de dor e sofrimentos para quem as viveu e para o grupo ao qual essas pessoas pertencem. Essas memórias, muitas vezes, caminham para um “esquecimento” por se tratar de algo que as pessoas preferem tentar esquecer para manter longe da mente algo que não gostariam de reviver por serem carregadas de dores. Pollak explica esse processo dizendo que “um passado que permanece mudo é muitas vezes menos o produto do esquecimento do que de um trabalho de gestão da memória segundo as possibilidades de comunicação. ” (POLLAK, 1989, p. 13)
Foram muitos os acontecimentos traumáticos que a população negra viveu durante o período escravocrata e a obra de Ana Maria Gonçalves trata de alguns deles de forma direta e não romanesca, mostrando todo o teor violento dessas ações. É o caso dos estupros e castigos violentos, por exemplo, que Kehinde retrata ao contar sobre o abuso sexual que sofreu pelas mãos de seu patrão, que alegava que “a virgindade das pretas que ele comprava pertencia a ele” (GONÇALVES, 2010, p.170), ou quando há a castração de Lourenço, que tentou evitar que Kehinde fosse abusada pelo Sinhô José Carlos, o patrão. Na narrativa, Kehinde conta que José Carlos agiu friamente e pediu que um castrador de porcos castigasse Lourenço, de forma que “segurando uma faca com lâmina muito vermelha, como se tivesse acabado de ser forjada, virou Lourenço de frente, [...] e cortou fora o membro dele. ” (GONÇALVES, 2010, p.172)
E, por fim, uma outra memória muito presente na obra é a memória ancestral, que se faz presente na luta de Kehinde para manter a sua identidade africana, o contato com seus familiares que foram mortos no decorrer da narrativa e levar todas essas vivências para o seu filho desaparecido.
Logo depois da primeira travessia no navio tumbeiro, Kehinde chega às terras brasileiras e já inicia a sua luta para se manter em contato com a sua ancestralidade. Na chegada a Ilha de Frades ela percebe que todos que haviam feito a viagem com ela seriam batizados na religião dos brancos e receberiam novos nomes, também de brancos, e logo pensa no que gostaria de fazer: “ir para a ilha e fugir do padre era exatamente o que eu queria, desembarcar usando o meu nome, o nome que minha avó e minha mãe tinham me dado e com o qual me apresentaram aos orixás e aos voduns” (GONÇALVES, 2019, p. 63). Depois de ter perdido toda a sua família, de ter sido tratada como animal no navio, estar em terras desconhecidas e desamparada, a única coisa que lhe restou, a sua identidade, lhe seria tirada.
A partir desse momento a protagonista inicia a sua luta para se manter em contato com a sua ancestralidade, com a sua identidade e com tudo que julgava importante para a sua constituição como ser humano. Kehinde começa a cultuar aos voduns de sua avó e os orixás, consegue estátuas dos ibêjis, um pingente de Taiwo (sua irmã gêmea) e alguns orixás que Kehinde manteve escondidos enquanto vivia com seus patrões, mas sempre perto dela para que pudesse cultuá-los.
Quando Banjokô, primeiro filho de Kehinde, nasceu ela quis inicia-lo também na religião que a mantinha próxima da família. E mesmo não tendo certeza de que aquela cerimônia era o que sua avó iria querer para seu filho, ela queria criar para ele laços que a religião e o culto aos orixás poderiam proporcionar. Durante a narrativa, a protagonista sempre frequentou com seus filhos rituais de mesma natureza realizados pelo babalaô, chamado Ogumfiditimi, mantendo viva a sua fé nos orixás. Através desse costume ela descobriu coisas a seu respeito que a guiou durante toda a sua vida, como ela afirma em alguns trechos do livro, por exemplo quando diz que “a medida que as coisas foram acontecendo, eu me lembrava daquele jogo e sabia que tinha sido alertada e instruída, e que muitas vezes até já estava preparada, mesmo sem saber” (GONÇALVES, 2019, p. 269).
Ao narrar os quase cem anos da vida de Kehinde o livro de Ana Maria Gonçalves aborda aspectos da história do Brasil e da escravidão, diversos temas da vida dos negros que viveram naquela época, trazem perspectivas sobre a cultura, a vivência e a ancestralidade desses negros. Dessa forma o romance se constitui de inúmeras histórias de pessoas, torturas, desumanização, racismo, imposição cultural e memórias múltiplas que se tornam necessárias para que leitores contemporâneos possam olhar para o passado, questioná-lo e criar novas formas de o significar levando a uma compreensão maior do passado, o que ajuda a compreender o presente e também o futuro.
Referências bibliográficas
BURKE, Peter. PORTO, A. Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 69-89.
HALBWACHS, Maurice A Memória Coletiva. São Paulo, SP: Editora Revista dos Tribunais LTDA, 1990.
HUTCHEON, Linda. A poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. 1991. ed. Rio de Janeiro: Imago, 1947.
GONÇALVES, Ana Maria. Um Defeito de Cor. 19° ed. Rio de Janeiro: Record, 2019.
POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Revista estudos históricos, v. 2, p. 3–15, jun. 1989.
SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. 2009. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
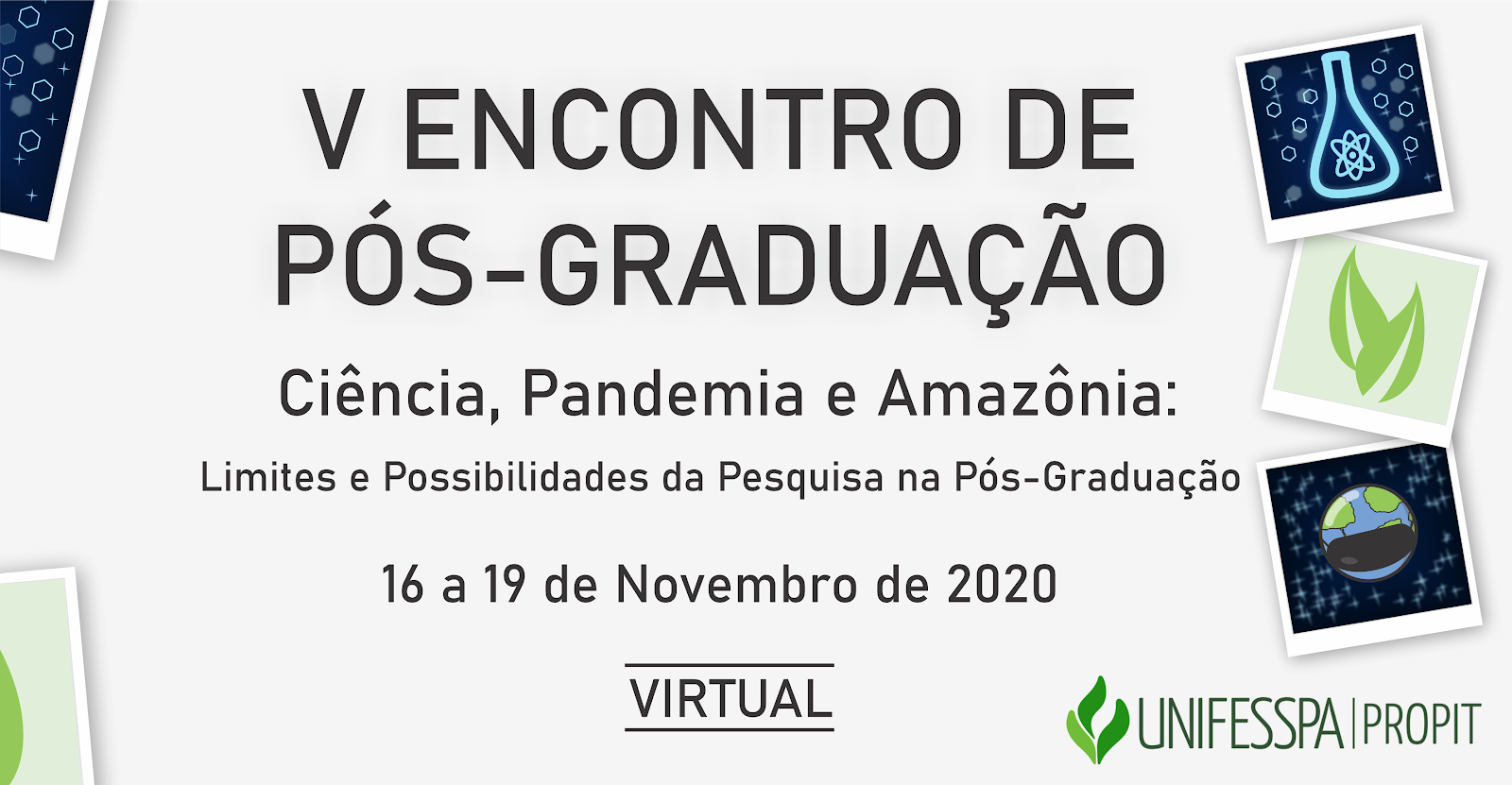
Comentários
Postar um comentário