NARRATIVAS AFOGADAS: A ENCHENTE PROVOCADA PELA UHE DE TUCURUÍ NA VISÃO DOS ASURINIS DO TOCANTINS
Adriana do Socorro Serra Paiva de Moura¹
Dirlenvalder do Nascimento Loyolla²
A Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi idealizada no começo do ano de 1970, e o início da construção se deu em 1975, tendo seu auge em 1982, com o maior número de funcionários, trabalhando 24 horas por dia em regime de revezamento. A área a ser inundada é de dois mil cento e sessenta Km² (Jornal do Brasil RJ – edição 291), denominada Polígono das Inundações. No local, moram mil e duzentas famílias, abrangendo várias cidades na região ao redor de Tucuruí que terão seus territórios total ou parcialmente inundados e fazendo com que os habitantes sejam remanejados para outra localidade, conforme acordo com a Eletronorte (empresa responsável pelo empreendimento). Contudo, para a execução do projeto teria que haver diversas mudanças que envolveriam desde o aspecto espacial até o social. Campos e Duarte (2006) informam que o desenvolvimento do município de Tucuruí “contribuiu” para a criação de três novos municípios: Breu Branco, Goianésia do Pará e Novo Repartimento.
Os deslocamentos na região eram grandes e proporcionais à área inundada. Como exemplo, a cidade de Jacundá seria toda alagada, portanto, no ano de 1977, houve um acordo entre a empresa e a prefeitura para o remanejamento da população, contudo, a véspera da abertura das eclusas, apenas 35% dos moradores haviam sido retirados, assim como a construção da nova Jacundá tinha poucos avanços, como a sede da prefeitura e a construção de duas escolas. O prefeito à época, Guilherme Mulato Neto, demonstra sua preocupação quanto a desterritorialidade:
A população não mudou totalmente para o novo núcleo, devido ao padrão de vida que estava habituado a levar, na beira dos rios, como pescar, caçar, pois a Nova Jacundá fica em local central, distante do Rio Tocantins. Assim, parte da população mudou para a Nova Jacundá, no que eu estimo em 35 por cento o total dos que antes residiam na antiga Cidade e estão na Nova. O restante, em torno de 65 por cento, já debandou para outras áreas, outras beiras de rio para viver. (Diário do Pará, 01 de abril de 1984)
Vale destacar que a nova cidade é localizada a 200 quilômetros da antiga e que a população teria que ser adaptada a sobreviver de outros meios que não fossem por rios ou os castanhais, que foram devastados pelo nocivo Agente Laranja. De acordo com as declarações do prefeito, a cidade recebe, quinzenalmente, seis a oito famílias de nordestinos, que acabam por serem sacrificadas pela dificuldade de adaptação na região, assim como a enorme incidência de malária.
Após diversos problemas, em especial decorrentes da falta de indenizações e condições de sobrevida por parte da Eletronorte no deslocamento do povo afetado e da utilização de agrotóxicos que prejudicariam o meio ambiente e saúde das pessoas, finalmente no dia 22 de novembro de 1984, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi inaugurada com a presença de autoridades políticas como o Presidente da República, João Figueiredo, e o Governador, Jader Barbalho.
Em fevereiro de 1985, com a chegada do inverno amazônico, as águas do Tocantins sobem demais e as cidades da região do Lago começam a inundar, inclusive aquelas que foram construídas para abrigar os desalojados pela Hidrelétrica. Esse aumento do rio em período de chuva não fora previsto pela Eletronorte e causou um grande caos no local com muitos desabrigados, agora como consequência da construção.
Diversas áreas em que foram assentados os expropriados, pela Eletronorte, as quais foram consideradas fora do alcance das águas do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, estão alagadas. O alagamento é provocado pelo enchimento daquele reservatório objetivando atingir a cota ideal de 72 metros, para o funcionamento da hidrelétrica.
As localidades Santa Rosa e Jabuti são as que apresentam maiores problemas, tanto que a Comissão Estadual de Defesa Civil, Eletronorte, Getat e Prefeitura de Jacundá utilizam barcos, caminhão e até helicópteros para retirar as famílias ilhadas que enfrentam, também, outro sério problema: benfeitorias completamente destruídas. (Diário do Pará, 16 de fevereiro de 1985)
Entre os afetados por essa enchente está a comunidade dos Asurinis do Tocantins, que habitavam nas margens do rio Trocarazinho e, surpreendidos com a cheia, abandonaram benfeitorias indispensáveis para sua sobrevivência, como plantação de mandioca, arroz, criação de galinhas, assim como aspectos importantes para o povo, como o cemitério Asurini. Dessa feita, os indígenas mudaram para a margem da BR 422, entretanto esse deslocamento provocou um maior envolvimento com a cultura do homem branco além daquele que era feito, basicamente, pela troca comercial. Sendo assim, cabe a seguinte pergunta norteadora: quais as transformações culturais observadas nesse deslocamento do Trocarazinho para a BR 422?
Sendo assim, o presente estudo se propôs a registrar lendas e narrativas dos Asurinis que refletissem sobre essa confluência cultural. Tal medida se justifica pela tentativa de se promover um resgate da cultura alagada, assim como levar outras pessoas a conhecer um pouco dessa comunidade.
Tendo em vista o objetivo da pesquisa, optou-se por investigação pelo método histórico, uma vez que se anseia buscar os efeitos presentes de fatos iniciados no passado. Portanto, divide-se em partes: um amplo levantamento bibliográfico e acervos de jornais sobre a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí; documentos que acrescentem na compreensão dos fatos, como relatórios e processo jurídico; depoimentos dos indígenas Asurinis, que serão analisados à luz do pesquisador para análise do contexto do momento estudado.
Três passos são considerados essenciais na produção de um trabalho histórico, ou seja: 1) levantamento de dados; 2) avaliação crítica desses dados e, finalmente 3) apresentação dos fatos, interpretação e conclusões. Um dos objetivos da investigação histórica é lançar luzes sobre o passado para que este possa clarear o presente, inclusive fazer perceber algumas questões futuras. A metodologia histórica pode surgir dentro de uma abordagem quantitativa ou qualitativa, entretanto a natureza da história é fundamentalmente narrativa (qualitativa) e não numérica (quantitativa). Partindo, sobretudo, de uma concepção de que o conhecimento é produzido socialmente, e que o pesquisador ao produzir o conhecimento sobre qualquer tempo estará trabalhando a perspectiva do passado com o seu presente. Essa relação de passado e presente se estabelece na busca do conhecimento, de maneira a se questionar o passado numa série de questões que são o “agora”. (PADILHA; BORENSTEIN, 2005 apud VIEIRA 2012)
À vista disso, a abordagem do problema será pelo método qualitativo, tendo em vista o caráter da sua natureza. A ideia inicial era de entrevistar somente os anciãos, entretanto alguns, a princípio, aceitavam narrar, mas, no decorrer do processo, mostraram-se pouco acessíveis em relatar os impactos sofridos na construção. Dessa forma, como um meio de favorecer a interação entre pesquisador e entrevistado, procurou-se por questões mais neutras, como falar sobre lendas e mitos. Sendo assim, o que seria um “meio” virou uma forma de análise, pois foi possível analisar as transformações na cultura Asurini sobretudo nessas manifestações. A outra alteração no projeto foi inserir também os filhos desses anciãos, pois, quando se chegava no local, muitos queriam ajudar incentivando os pais e acabaram falando também sobre o que escutam deles. Dessa feita, eles também foram inseridos na pesquisa como aquele que lembra pela contação do outro, ressaltando que os impactos também foram percebidos por eles.
Portanto, a pesquisa tem princípios na fenomenologia de Husserl estando o pesquisador diretamente envolvido no campo de estudo e observando in loco a manifestação cultural e experiências vividas pelos indígenas, considerando o sujeito Asurini decisivo na produção do conhecimento.
Ricoeur (2014, p. 31) diz que o tempo “torna-se tempo na medida em que é articulado de maneira narrativa”. A possibilidade de se obter uma composição identitária de uma comunidade só é possível na medida em que o tempo é, não só colocado a distância, como também é necessário ser contado por meio de narrativas.
Sendo assim, no ato de contar:
O narrador parece colocar em ordem e tornar coerente os acontecimentos de sua vida que julga significativos no momento mesmo da narrativa: restituições, ajustes, invenções, modificações, simplificações, “sublimações”, esquematizações, esquecimentos, censuras, resistências, não ditos, recusas, “vida sonhada”, ancoragens, interpretações e reinterpretações constituem a trama desse ato de memória que é sempre uma excelente ilustração das estratégias identitárias que operam em toda narrativa. (Candau, 2016, p. 71)
Dessa forma, ao compor uma narrativa, o narrador opera inclusões compostas por diversos elementos que se encontram à disposição do locutor, como o afeto a um espaço, ou a uma pessoa importante, isto é, no jogo identitário operam aspectos do fato em si à subjetividade.
Nesse sentido, o sujeito recordante tem a possibilidade de adequar o passado, fazendo uso do que é, de fato, necessário e útil na narrativa, que atua como significante da identidade, sendo que, até mesmo nesse ambiente, o sujeito do tempo presente age com efeito no passado, interferindo em suas memórias e firmando seu processo identitário.
Vale ressaltar que, de qualquer modo, a informação principal a ser contada está preservada, contudo impregnada das sensações do presente. Na lembrança, não se faz presente a consciência, contudo ela se evidencia e se manifesta. Portanto, é a consciência que define a memória.
A retomada da consciência foi bem observada nos Asurinis do Tocantins quando retomaram os festivais como: mingau, taboca, entre outros. Nota-se que no tempo que se desenvolveu entre a saída do Trocarazinho para a proximidade da BR, as festividades também foram esquecidas, entretanto, nos últimos anos, a comunidade tornou aos antigos hábitos, inclusive ensinando as crianças a tocarem a taboca (instrumento de sopro feito a partir do bambu).
Candau (2016, p. 86) caracteriza como memória longa a percepção de um passado sem dimensão, imemorial, em que se cruzam acontecimentos pertencentes tanto aos tempos antigos quanto aos períodos mais recentes. Sendo assim, nota-se que a firmação identitária dos Asurinis do Tocantins pertence a uma memória longa, que é própria de uma coletividade e que revela memórias fortes, pois caracteriza a representação que o grupo faz de si mesmo e de sua história.
Dessa forma, deduz-se que à memória está destinado um papel relevante que determina a manutenção da identidade e cultura, sendo o passado contado e manifestado por celebrações e contações de verdades do povo. Entretanto, deve-se considerar que as identidades não possuem caráter estável, portanto tem que ser consideradas as manifestações e transformações presentes, sendo assim, os traços culturais possuem natureza mutável e são observáveis nas diferentes relações do indivíduo com a sociedade.
Contudo, acredita-se que a mistura de padrões culturais antigos, assim como a incorporação de novos, não constitui um fator negativo, posto que o pertencimento cultural dos Asurinis permanece. Portanto, ao observarem como se deu o deslocamento do povo, embora cada um a seu modo, recorde de um acontecimento em particular, denotando a subjetividade narrativa, todos os velhos compartilham da mesma memória, sendo esta enraizada em uma tradição cultural, que favorece a conscientização coletiva Asurini.
REFERÊNCIAS
CANDAU, Joël. Memória e Identidade. São Paulo: Contexto, 2016.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. São Paulo: Editora da Unicamp, 2014.VIEIRA, José Guilherme Silva. Metodologia de Pesquisa Científica na Prática. Lapa: Editora da Fael, 2012.
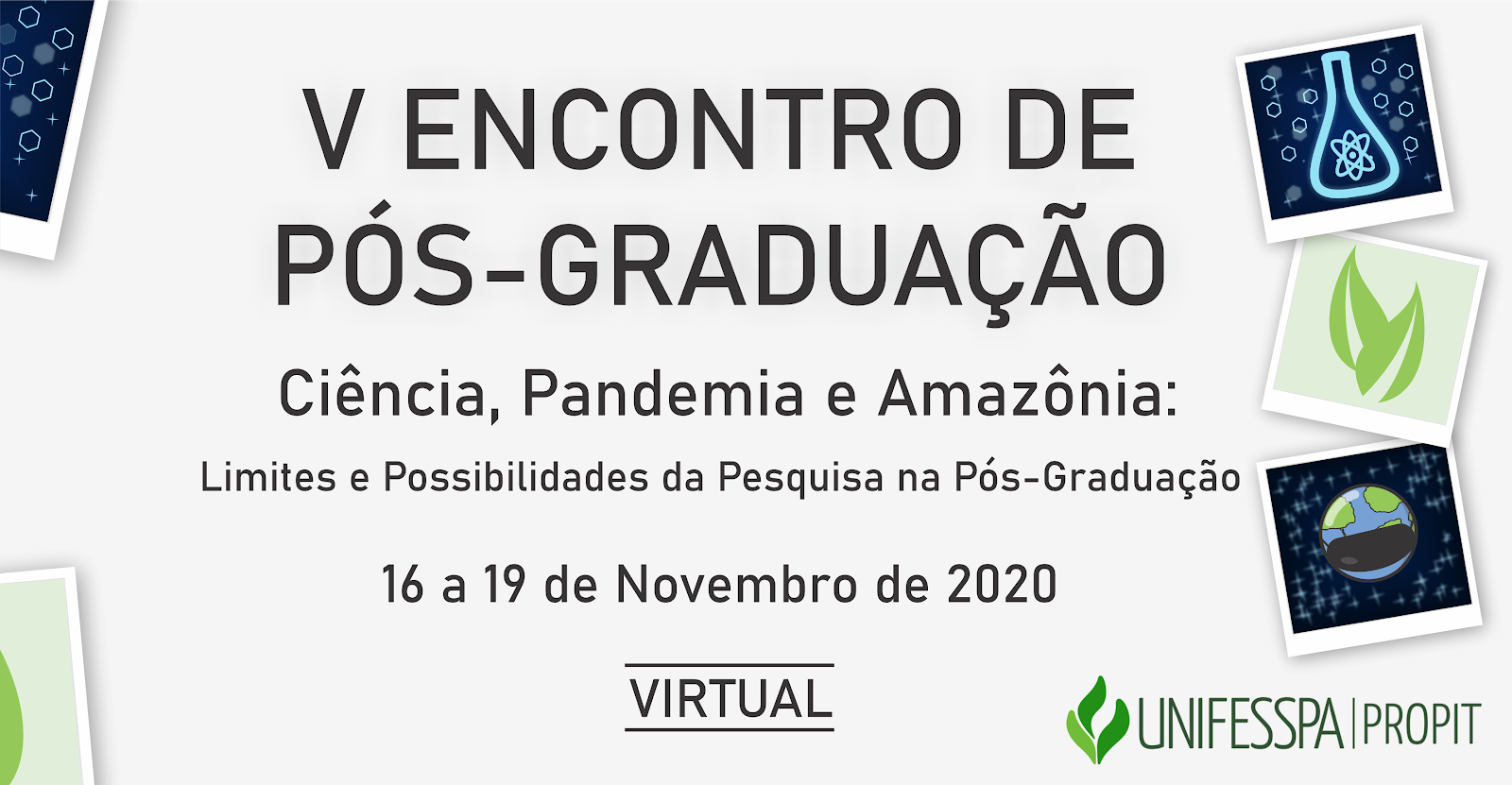
Na contribuição das narrativas, pode acontecer de um narrador divergir do outro quanto ao mesmo fato? Se acontecer, como resolver, metodologicamente, a situação?
ResponderExcluirsim, é perfeitamente possível.
ExcluirTomando-se por base Halbwachs (1990), entende-se que a memória possui seu caráter subjetivo e esta visão impregna a reconstituição dos fatos. Inclui-se, ainda, a questão ideológica. Tais fatos interferem, diretamente, na rememoração e contação das histórias.
Entretanto, não existe problema, visto que o fato continua intacto, mesmo sendo as sensações tidas de modo individual, com características pessoais próprias e peculiares, o pesquisador tem como identificar o fato em si. Contudo, é essa subjetividade de cada um que é essencial a esta pesquisa, visto que é nela que se encontra a riqueza da diversidade cultural dos Asurinis.
resposta por Adriana do Socorro Serra Paiva de Moura
Excluir