NARRATIVAS DE PODER PÚBLICO E PRIVADO: A FIGURA DO PAI COMO ALEGORIA DO COLONIALISMO EM CADERNO DE MEMÓRIAS COLONIAIS, DE ISABELA FIGUEIREDO
Lisa Galvão Elisei; graduanda em Letras/Português e suas Literaturas na Universidade Federal de Lavras (UFLA); lisaagalvao@gmail.com.
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis; professora doutora do Departamento de Estudos da Linguagem da UFLA; robertafranco@ufla.br.
O meu pai é o princípio de tudo. Foi aquele que mais amei e odiei. Aquele que melhor me serviu como modelo e de quem mais me quis distinguir.
Isabela Figueiredo
O livro Caderno de memórias coloniais (2009), de Isabela Figueiredo, é um romance autobiográfico que lida com diversas questões relativas à vida na então colônia de Moçambique, nos anos finais do Império português. Figueiredo viveu na colônia desde seu nascimento, em 1963, até completar treze anos, pouco depois do 25 de abril de 1974, quando retornou para a metrópole, sozinha. Os pais só puderam voltar meses depois. O Caderno de memórias coloniais se consagrou quase imediatamente após a sua primeira publicação. Através de uma escrita crua e dilacerante, a narradora conta suas memórias pessoais, sua infância e adolescência em Lourenço Marques, atual Maputo, e como se viu vítima e agente de diversas intolerâncias com as quais teve contato.
Esses textos eram publicações que inicialmente compunham o blog pessoal de Isabela, que foram organizados juntamente com fotos da infância da autora resultando no romance, que contrasta uma narrativa de caráter violento com fotos de uma criança de aparência doce e inocente, como aponta Roberta Franco: "O contraste entre as suas fotografias de infância e as temáticas destacadas nas narrativas também evidenciam esse deslocamento do olhar: se na página da esquerda há uma foto singela da menina loira, na página da direita há descrições sobre a vida sexual na colônia, as diferenças entre as brancas e negras, o apetite sexual do pai, deixando claro ao leitor que não há espaço para doces memórias ou para a meiguice representada pela fotografia." (FRANCO, 2015, p. 7). Nesse ambiente, o romance conta as experiências que a narradora teve como “colonazinha” e as formas com que teve contato com o colonialismo, tanto no âmbito privado e doméstico, quanto no âmbito público. Para isso, a narradora usa narrativas que partem da casa e da vida pessoal de sua família como uma alegoria da própria sociedade, tendo no pai a figura de maior influência.
Como “colonazinha”, termo com o qual refere a si mesma várias vezes, a narradora do Caderno passou a maior parte de sua vida em Moçambique reservada a um espaço muito “branco”. E o seu primeiro contato com o colonialismo foi através de seus pais, que construíam, na casa da família, uma perfeita miniatura da sociedade colonial. O seu pai, nesse contexto, ocupava um espaço de poder quase absoluto sobre ela e sobre sua mãe, como explica Roberta Franco: “É a partir da imagem que a menina de então 7/8 anos constrói do seu pai, imagem de pai-colono, que a narradora vai desvendando o cenário colonial” (FRANCO, 2015, p. 7).
Apesar de ter se mudado para Portugal ainda muito jovem, a narradora viveu diversas experiências e teve contato com muitas narrativas que nos permitem conhecer o olhar de uma retornada sobre a colonização de África, partindo de um espaço mais coerente com a infância de uma menina, ou seja, sua casa e seus pais. Isso porque, na História oficial, essas narrativas que partem do pessoal, principalmente se contadas por vozes de mulheres, sofrem profundos apagamentos. E, nesse cenário, coexistiam várias narrativas que “justificavam” o colonialismo da sociedade como um todo, envolvendo questões de raça, de classe e de gênero.
A narrativa de cunho racista, da diferença crucial entre brancos e negros, que eram vistos como de espécies diferentes, perpassou a vida da narradora mesmo depois de ter retornado a Portugal, e teve no pai seu primeiro e maior precursor: "O meu pai revoltava-se quando encontrava uma branca com um negro, já depois do 25 de Abril, em Portugal. Fitava os pares como se visse o Diabo. Eu dizia-lhe, para de olhar, o que é que te interessa? Respondia-me que eu não sabia, que um preto nunca poderia tratar bem uma branca, como ela merecia. Era outra gente. Outra cultura. Uns cães. Ah, eu não entendia. Ah, eu não podia compreender. Ah, eu era comunista. Como é que tinha sido possível eu dar em comunista?" (FIGUEIREDO, 2009, p. 23)
Apesar de sentir certa culpa, e parecer discordar do pensamento do pai, a narradora tem consciência plena de que essa narrativa não poderia ser direcionada a ela própria. Entretanto, no que se refere a uma opressão de gênero e de sexualidade, ela era diretamente vitimada, o que gera um medo da figura paterna, que podia lhe causar muitos danos caso ela o decepcionasse ou fizesse algo que não era do seu agrado. No trecho abaixo, podemos observar esse sentimento de angústia quando, com cerca de oito anos, a narradora vive uma epifania sexual na qual acredita estar grávida do vizinho preto, só porque gostava da companhia dele e as duas crianças conversavam no portão. Entretanto, a narradora temia o perigo que esse contato com o vizinho apresentava: “[...] o meu pai podia matar-me, se quisesse. Podia espancar-me até ao aviltamento até não ter conserto. Podia expulsar-me de casa e eu não seria jamais uma mulher aceite por ninguém. Havia de ser a mulher dos pretos. E eu tinha medo do meu pai. Desse poder do meu pai.” (FIGUEIREDO, 2009, p. 43).
Por causa dessas narrativas, a narradora desenvolveu um sentimento conflitante com a figura paterna: de um lado, a revolta contra aquela opressão que via o pai reproduzir, seja contra a mãe, contra os negros ou mesmo contra ela. De outro lado, havia uma fascinação sensual que nutria pelo corpo e pela sexualidade do pai. E essa questão aparece de maneira muito subversiva na obra, devido à consciência que a narradora tem sobre o quanto ela era influenciada pela sexualidade do pai: "O maior choque que sofri com a consciência da sexualidade paterna aconteceu no dia em que o vi, com os meus olhos de dez anos, cobiçar uma rapariga que passava, e atirar-lhe um piropo. Foi na bomba de gasolina que ficava à saída de Lourenço Marques, logo a seguir ao entroncamento da Matóla. Estou a vê-lo fora da carrinha, braço apoiado na janela, esperando a vez que o preto viesse meter gasolina - e fazer aquela figura. Que vergonha! O meu pai! Que vergonha!" (FIGUEIREDO, 2009, p. 25)
Nesse sentido, pensando essas duas perspectivas em relação à imagem do pai, podemos observar que essa menina o admirava, temia-o, e também o invejava, pois queria ser como o pai e ter tanto poder e liberdade quanto ele. Essa questão da “inveja” da figura paterna não é, de forma alguma, uma exclusividade dessas personagens ou da obra analisada, mas é um movimento muito comum entre relações de pai e filha, que pode ser explicado por Simone de Beauvoir: "Os psicanalistas afirmam de bom grado que a mulher busca no amante a imagem do pai; mas é por ser homem e não por ser pai que ele deslumbra a criança, e todo homem participa dessa magia. A mulher não almeja reencarnar um indivíduo no outro e sim ressuscitar uma situação: a que conheceu menina, ao abrigo dos adultos. Integrada no lar, gozou a paz de uma quase passividade; o amor devolver-lhe-á a mãe, como o pai; devolver-lhe-á a infância." (BEAUVOIR, 1949, p. 411).
A pesquisadora Catarina Martins entende essa dualidade entre a revolta e a admiração como um “embate” entre a face pública e privada dele: “A memória assume, nos seus Cadernos, a função de catarse individual que passa pela traição pública à figura dominante da vida da autora – o pai, simultaneamente amado e odiado, mas sempre eroticamente cobiçado – e ao papel que a sociedade colonial reservava para ela.” (MARTINS, 2011, p. 24), ou ainda, como aponta Roberta Franco: "Seu pai, figura que desperta as memórias de quando andava sobre seus ombros ou quando era levantada no ar, a figura paterna, mas também desperta a memória do branco que mandava nos pretos, que andava atrás das mulheres da terra, a figura do colonizador, da qual ela também não consegue se separar." (FRANCO, 2018, p. 161).
Portanto, entendemos a relação da narradora com o pai em Caderno de memórias coloniais como uma alegoria ao colonialismo, pois ele representa o estereótipo do colono por reproduzir as narrativas de opressão de gênero tanto no âmbito privado (impondo uma série de narrativas opressoras sobre sua esposa e filha) e no âmbito público (com sua relação de imposição de poder sobre os negros que eram seus funcionários). Aliado a isso, temos também a admiração pela sexualidade do pai, que criava sentimentos conflitantes na narradora do Caderno.
Referências Bibliográficas:
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1960.
FIGUEIREDO, Isabela. Caderno de memórias coloniais. Todavia, 2009.
FRANCO, Roberta. AS DISPUTAS PELA MEMÓRIA NO PORTUGAL PÓS-IMPÉRIO ABRALIC, Associação brasileira de Literatura Comparada. Rio de Janeiro, 2015.MARTINS, Catarina. "Deixei o meu coração em África”. Memórias coloniais no feminino. Oficina do CES nº 375. 2011.
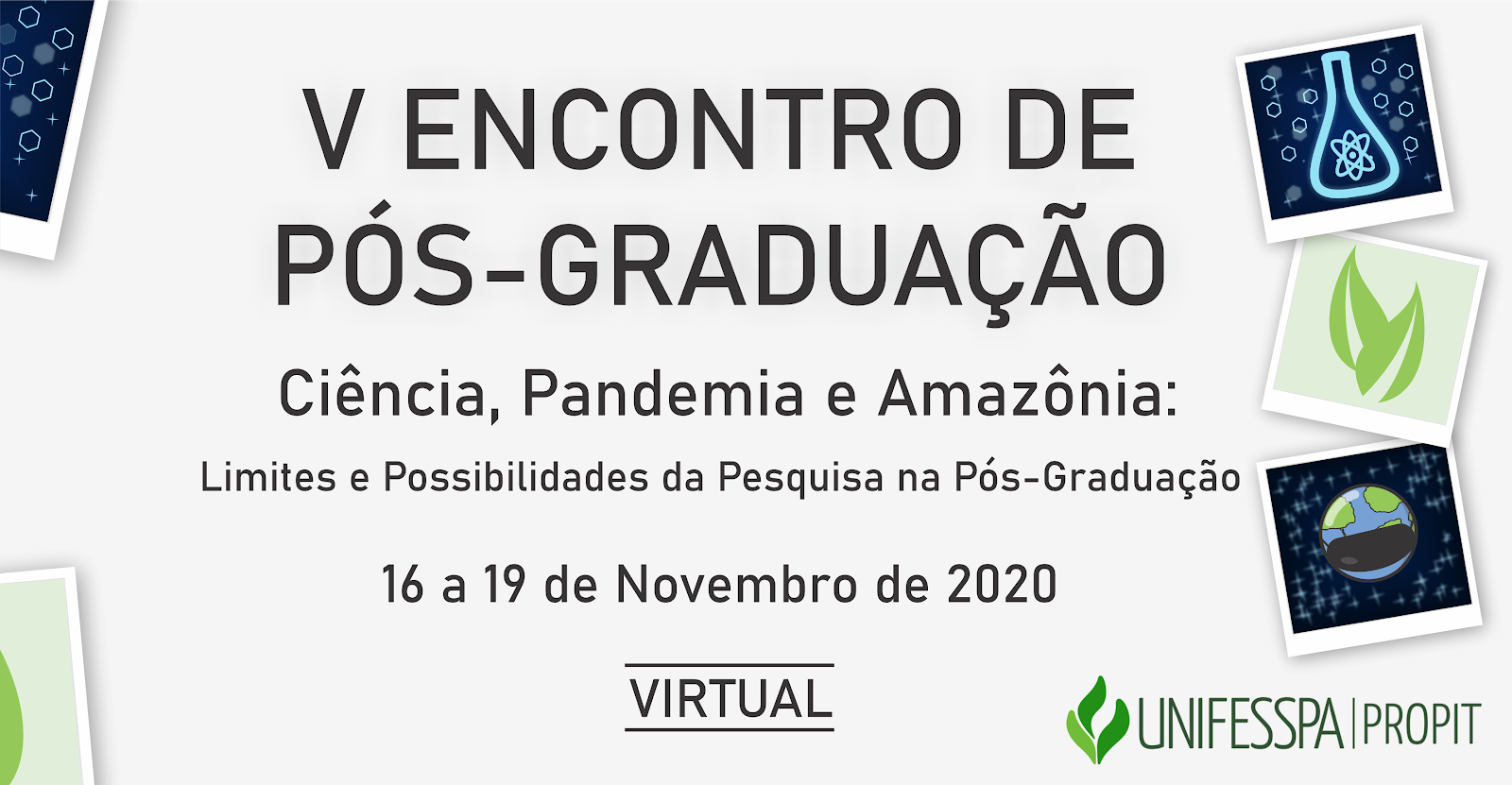
Comentários
Postar um comentário