NARRATIVAS OBLITERADAS: UM ESTUDO SOBRE O APAGAMENTO DAS MEMÓRIAS DOS OPERÁRIOS, TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA NO PERÍODO 1958 A 1979
Nome(s) do(s) autor(es): Orientador: Angelo Adriano Faria de Assis 1 2, 3, 4 angeloassis@ufv.br, Autora: Vanda do Carmo Lucas dos Santos 1, 5, 6 vlucas@ufv.br. Programa de Mestrado Profissional, Patrimônio Cultural, Paisagem e Cidadania da Universidade Federal de Viçosa - UFV.
¹ Universidade Federal de Viçosa. 2 Professor Associado. ³D. Sc. História, UFF, 2004. 4 Pós-Doutorado pela Universidade de Lisboa, 2011. 5 Técnico-Administrativo em Educação, 6 Mestranda em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania.
Buscando o diálogo de nosso trabalho, com a proposta deste simpósio temático: “Narrativas em tempos de crise: relações poder, memórias e representações”, apresentamos nossa pesquisa de mestrado, do Programa de Mestrado Profissional, Patrimônio Cultural, Paisagem e Cidadania da Universidade Federal de Viçosa – UFV, que investiga a invisibilidade histórica e ausência de narrativas dos trabalhadores de atividade-meio, especificamente para esse estudo, os operários da construção civil da Universidade Federal de Viçosa no período 1958 a 1979. Uma análise das relações de poder e subordinação desse grupo, socialmente marginalizado e historicamente apagado no seio da comunidade universitária. Para nosso intento, empreendemos uma busca pelo registro histórico da trajetória não escrita desses operários. A utilização da denominação “operários”, busca reproduzir a terminologia utilizada no período recortado e garante a simbologia histórica do termo, que é utilizado para designar os grupos revolucionários das principais lutas históricas do proletariado por melhores condições de vida e de trabalho. Nossa contextualização histórica perpassa pelos estudos do movimento operário mundial e nacional. Destacando a importante abordagem de (Hobsbawm, 1981) em sua obra: Os Trabalhadores - Estudos sobre a História do Operariado, onde problematiza que esse tipo de estudo, sobre o movimento trabalhista, representa “um fenômeno novo na história”. Também de mesma importância a trajetória muito bem fundamentada por (Leonardi, 1991), em sua obra sobre a história da indústria e do trabalho no Brasil, que também alerta para esse apagamento da memória operária no Brasil.
Adentrando na contextualização local de nossa pesquisa, os estudos sobre a formação da instituição UFV, nos revela, características singulares. Enquanto outras universidades, consolidadas em centros urbanizados, buscavam o fortalecimento de tecnologias industriais, a idealização da Escola Superior de Agricultura - ESAV, provinha de uma formulação por dentro do confronto da política nacional. Implantada na década de 1920, na cidade de Viçosa, no interior de Minas Gerais, a ESAV vinha com objetivos direcionados para a formação de uma elite agrária regional e aumento da produção agrícola, contexto bem delineado por (Azevedo, 2005 apud Pompermayer, 2018). Além disso, a disputa de poder político do principal patrono da Universidade, o viçosense e ex presidente da república, Arthur da Silva Bernardes, refletia nas relações internas da ESAV. Várias transformações ocorreram por conta dessa disputa política, o que gerava grande instabilidade interna, a medida que o cenário político nacional se alterava.
Ao longo de sua trajetória, a instituição sofreu várias transformações. Entre mudanças administrativas e estruturais, passou por três grandes fases, sendo inaugurada em 1929, como Escola Superior de Agricultura - ESAV, fase que durou até 1948 quando foi transformada em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais - UREMG. Esse segundo ciclo, sob chancela estadual, permaneceu até meados de 1969, quando foi definida a derradeira transformação, passando a vigorar sob alçada federativa, como Universidade Federal de Viçosa - UFV. Desse ínterim, surge nosso recorte temporal, que perpassa pela transição do regime estadual, última década da UREMG, para o regime federal, primeira década como UFV. A partir da federalização, ocorre grande processo de expansão da Universidade e, consequentemente, o crescimento do número de pessoas que migraram da zona rural para a área urbana, bem como de outras regiões circunvizinhas à cidade de Viçosa e mesmo de regiões distantes, em busca de empregos gerados pela Instituição. Neste cenário, a maior parte dos trabalhadores foram absorvidos nas áreas de construção civil e manutenção da Universidade, contexto bem caracterizado por (Baêta, 2016), que relata essa expansão quantitativa e qualitativa da mão de obra estrutural da UFV. Esse levante de trabalhadores assume importante papel, o de contribuir para a notável ampliação das estruturas acadêmicas e administrativas experimentada nessa época, conforme relata (Santos, 2017). Desse grupo de operários, selecionaremos os sujeitos de nossa pesquisa, que busca explicações para a invisibilidade desses personagens, no quadro historiográfico oficial da UFV. Sendo assim, supomos que, apurar essas narrativas obliteradas, permitirá identificar as motivações desse apagamento de memória.
Na análise preliminar da bibliografia, identificamos, pequenos vestígios da presença desses trabalhadores. Menções opacas sobre organizações associativas de cunho mutualista, atividades recreativas, clubes esportivos, a escola de alfabetização de adultos, entre outras informações superficiais. Verificamos ainda, apontamentos sobre o regime autoritário de trabalho e relatos das dificuldades, dos diretores, em capacitar a mão de obra disponível, já que esses trabalhadores não possuíam o tipo de prática exigida para construções projetadas para a nova instituição. Além da formação especializada, era preciso treinar parte desses trabalhadores para a fabricação dos materiais básicos das obras. A maior parte desses materiais, eram produzidas no local pelos operários. Poucas coisas vinham de fora, devido a distância da sede da universidade dos centros urbanos existentes. Desde a olaria para preparo dos tijolos, o setor de ferramentaria, a produção de telhas e manilhas, passando pela montagem de estação de energia elétrica, desassoreamento de lagos, obras de saneamento, abertura de ruas e avenidas, tarefas executadas por esses operários, de forma praticamente manual, conforme relatos de ex. Operários, apurados por (Luchete, 2008). Destaque para a pedreira, situada no terreno da instituição e de onde se extraia as pedras, bases das edificações e da construção da estrada de ferro que cortaria o campus universitário. Tal pedreira foi palco de um trabalho penoso e insalubre, de onde foram ceifadas, dezenas de vidas desses trabalhadores. A partir de nossa pesquisa nos trabalhos acadêmicos sobre a história da Universidade, bem como, nas publicações oficiais sobre o tema, confirma-se, essa ausência da memória dos operários, sendo que essas e outras constatações, serão confrontadas ou confirmadas a partir do aprofundamento do estudo bibliográfico e documental, além das entrevistas com esses, ex. Operários e com os gestores da memória institucional. Nosso embasamento documental procederá dos acervos institucionais do Arquivo Central e Histórico, Museu Histórico e dos arquivos funcionais do órgão de gestão de pessoas da UFV. Também serão considerados os arquivos das associações de classes e acervo pessoal desses trabalhadores, que podem conter indícios da relação de trabalho que se dava no interior da Universidade, bem como sobre os motivos da omissão dessas narrativas.
Considerando que a construção de narrativas e representações que buscam preservar a memória coletiva quanto a fatos, pessoas ou ideias é uma prática humana universal, conforme defende (Abreu e Chagas, 2003) e que, como defendido por (Fonseca, 2009), a ampliação dos “direitos culturais” dos diversos grupos que compõem a sociedade, favorece a sociabilidade e ampliação do direito à cidadania, pretendemos, com o presente trabalho, captar aspectos da formação da memória coletiva e identidade desse grupo. Buscaremos as inquietações desses trabalhadores, suas reivindicações no espaço institucional, sua rotina laboral, os ensaios de organização social, política e, ou religiosa, que poderão contribuir efetivamente com a ressignificação da memória institucional e, consequentemente, com a identidade e cidadania desses trabalhadores. No que concerne às novas fontes históricas, podemos associá-las ao movimento da Nova História Cultural, muito bem relatado por (Burke, 1991) em sua obra sobre a Escola de Annales, que ele considera a revolução francesa da historiografia. O movimento dos Annales, fundamenta o autor, “ampliou o território da história, abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e a grupos sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais”. Reforçamos que, com esses estudos o autor discorre sobre a mudança das fontes históricas trazidas pela Nova História Cultural que permitiu o estreitamento das relações com outras ciências como a antropologia, sociologia, psicologia para explicar os fenômenos históricos. Segundo (Burke, 1991), essa aproximação conferiu um caráter multidisciplinar aos estudos históricos, com isso, passa-se a valorizar a pesquisa partindo da história de pessoas comuns para entender um contexto histórico ampliado, a denominada micro-história, que possibilitou também a ampliação dos estudos sobre cultura popular.
Com as devidas considerações, a partir do estudo proposto, pretende-se registrar e realçar as memórias desses operários e, ao mesmo tempo, contribuir para reconstituição da participação histórica desses trabalhadores, suas lutas e conquistas, tanto local como nacional. Sem deixar de considerar as contribuições de cunho científico, da emersão dessas memórias como novas fontes aos futuros pesquisadores, destacamos que, ao considerarmos a diversidade de narrativas desse grupo, conferiremos uma pluralidade nas memórias que compõem a história institucional. Um confronto de dados, não no sentido de oposição, com a versão já escrita, mas buscando a sua completude, uma vez que, a apuração dessas memórias, confere grande diversidade à memória institucional, contribuindo para a cidadania e identidade desse grupo de trabalhadores. Operários que construíram prédios, deixando as marcas físicas de suas edificações, todavia, os vestígios dessa passagem, permanecem apagados no quadro de memória institucional.
Referências Bibliográficas:
ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro. DP&A, 2003.
BAÊTA, Odemir Vieira. Estratégias como Práticas Sociodiscursivas em uma Universidade Pública: uma abordagem crítica. 2016. Tese de doutorado – Universidade Federal de Lavras.
BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografia: a Escola dos Annales 1929-1989. Tradução Nilo Odália. – São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991.
FONSECA, Maria Cecília Londres. "Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio cultural". In: Regina Abreu & Mário Chagas. Memória e patrimônio. Ensaios contemporâneos. 2a ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p. 59 -79.
LEONARDI, Victor; HARDMAN, Francisco Foot. História da indústria e do trabalho no Brasil. São Paulo: Ática, 199.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, nº 3, p. 3-15, 1989.
POMPERMAYER, Izabel Morais. Continuidades e descontinuidades da memória: um estudo sobre a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa (MG) por meio de publicações de 1939 a 2016. 2018. 165f. Dissertação de Mestrado Profissional em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania. Universidade Federal de Viçosa. 2007.
SANTOS, Eduardo Luiz dos. Diagnóstico da Situação Arquivística da Universidade Federal de Viçosa. 2017. Dissertação de Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
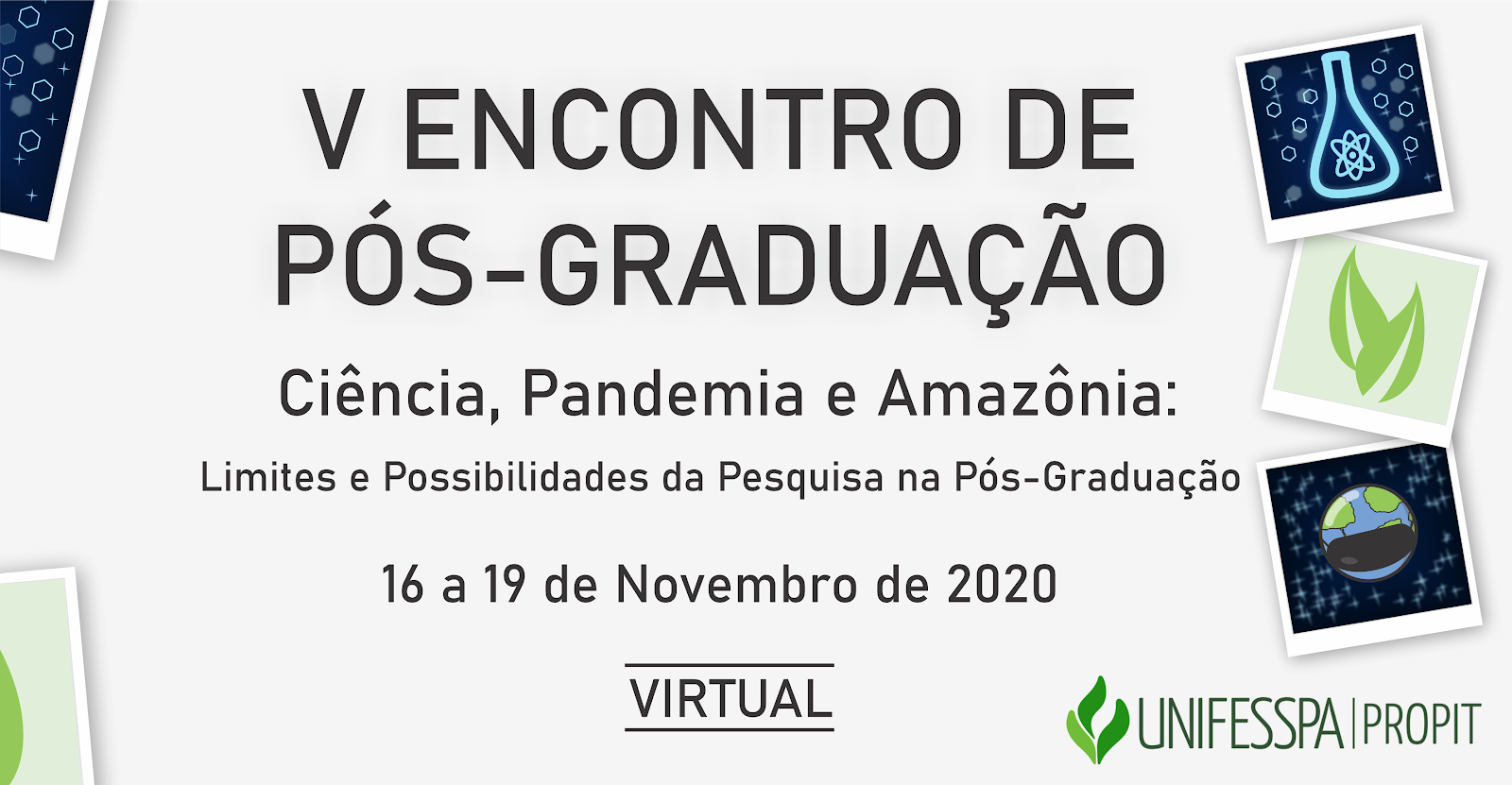
Olá, boa noite. Li o trabalho, gostei muito, tema muito provocador. Tenho algumas perguntas a fazer: Como surgiu a ideia de tratar de narrativas obliteradas?
ResponderExcluirBom dia Natália, a idéia partiu de um problema observado no cotidiano de minha Universidade, a invisibilidade dos trabalhadores administrativos, então a partir do mestrado, fizemos um recorte histórico para estudar essas narrativas, a partir das memórias os ex-operários da Universidade de 1948 a 1969.
ExcluirO recorte de 1958 a 1979 teve algum motivo como fator histórico relevante no período?
ResponderExcluirSim, o recorte temporal leva em consideração a mudança estrutural da Universidade Federal de Viçosa que, justamente o período de transição entre o regime Estadual para o Federal que foi de 1948 a 1969, sendo nosso recorte mais preciso a ultima década do período estadual e a primeira década do regime federal.
ExcluirSe tratando dos operários no recorte, vocês consideraram que pode existir memórias relacionadas também à mulheres que contribuíram em algum momento?
ResponderExcluirApesar do tipo de atividade operária, no nosso caso, construção civil, esperamos encontrar algumas mulheres operárias ou descendentes dos operários para enriquecer a nossa pesquisa, que também irá considerar o recorte racial e de gênero, quando houver.
ExcluirEsses operários que vieram de cidades vizinhas, devido ao tempo que estariam trabalhando nas obras, seria possível que suas famílias também tivessem vindo para a cidade e eles tivessem também essas memórias sobre o trabalho desempenhado ali?
ResponderExcluirCertamente, nossa pesquisa, que começará agora em março de 2021 considerará a entrevistas com os familiares desses operários, para compreendermos a história de vida, rotina desses trabalhadores.
ExcluirNas referências, vocês trazem duas autoras, ABREU e POMPERMAYER, como a leitura de ambas influenciou o olhar da memória e das narrativas obliteradas?
ResponderExcluirRegina Abreu contribui com suas importantes análises sobre memória e patrimônio, principalmente na importância de considerarmos a diversidade de narrativas e valorização da memória coletiva. Pompermayer, uma pesquisadora local, trás uma importante análise da crítica da composição do quadro de memória da Universidade.
Excluir