O MPLA E A CONSTRUÇÃO DA RAINHA GINGA MBANDI COMO HEROÍNA NACIONAL ANGOLANA
Sílvio Geraldo Ferreira da Silva, Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL, Mestrando em Letras – Universidade Federal de Lavras – UFLA, silviosilva57@yahoo.com.br
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis, Professora do Departamento de Estudos da Linguagem – DEL, Universidade Federal de Lavras – UFLA, robertafranco@ufla.br
O Movimento Popular de Libertação de Angola – MPLA é hoje um partido de grande importância dentro do universo político do país. Por deter diversos assentos no parlamento, é perceptível que também possui uma grande influência sobre a vida dos cidadãos e cidadãs de Angola. Para chegar ao lugar sociopolítico de destaque que hoje ocupa, o partido do qual fez parte o escritor Manuel Pedro Pacavira, passou por um processo lento e gradual de construção, o qual contou com o uso de diferentes artifícios e abordagens que fortaleceram o movimento como uma identidade organizacional. Segundo o site do próprio partido, “em 10 de Dezembro de 1956, um grupo de patriotas angolanos deu a conhecer o Manifesto do amplo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) [...] de modo a poderem resistir melhor e iludir a vigilância das forças coloniais de repressão ocupantes” (MPLA, 2020).
Desde o início, o objetivo dos fundadores do MPLA era a conquista da independência de Angola, entretanto, havia a recorrente inspeção das atividades políticas por parte dos dominadores portugueses. Como aquele contexto apresentava sérios problemas para quem se opunha ao sistema colonial, era preciso que a resistência acontecesse de maneira a se fortalecer sem chamar a atenção, desta forma, vários movimentos surgiram concomitantemente com o intuito de, juntos, caminharem rumo a independência nacional. Desde os primórdios do MPLA Pacavira se manteve ligado ao movimento, devido a este fato, é sempre mencionado como uma das suas figuras centrais. No contexto de luta pela independência, percebe-se que o governo português não reconhecia as articulações angolanas como resistência nacionalista, mas sim como terrorismo. Esta foi uma das formas encontradas por António de Oliveira Salazar para deslegitimar a luta dos “da terra” pela libertação sociopolítica.
O sucesso político de uma organização está diretamente ligado ao modo como os seus agentes se articulam. Aristóteles, em seu livro A Política (2010), afirma que “todas as sociedades, pois, se propõem qualquer bem – sobretudo a mais importante delas, pois que visa a um bem maior, envolvendo todas as demais: a cidade ou sociedade política” (ARISTÓTELES, 2010, p. 01). O bem maior do qual o filósofo fala precisa ser pensado de maneira subjetiva, uma vez que os conceitos de “bem ou mal” podem apresentar variações de acordo com o momento e o lugar onde são pensados. Para Portugal, a colonização era boa, enquanto para Angola, era ruim. O valor, portanto, depende do lugar e de quem o diz. O “bem maior”, desta forma, pode ser encarado como algo que vá ao encontro dos anseios da maior parte de uma determinada sociedade, por exemplo. Pensando no contexto da Angola Colonial, a independência era o desejo de grande parte da população, principalmente dos descendentes dos povos tradicionais, desta forma, a luta anti-colonial configurou-se como algo benéfico. Com a insatisfação popular ao sistema colonial, o apoio das massas foi algo relativamente fácil de se conseguir, ao mesmo passo em que foi fundamental, uma vez que sem o apoio do povo, as causas políticas ficam demasiadamente comprometidas (ARISTÓTELES, 2010).
O período de luta pela independência angolana protagonizada pelo MPLA, tendo por base os dados apresentados no site oficial do partido, foi de 19 anos (MPLA, 2020). Neste mesmo período, há o surgimento de outros movimentos que também lutavam pela independência do país, entretanto, com uma visão sociopolítica diferente. A União Nacional para a Libertação Total de Angola – UNITA, de Jonas Savimbi, aparece neste cenário como um forte movimento pró-independência (UNITA, 2020), mas a sua atuação e o seu ideal político eram excludentes. Fonseca (2012, p. 91) diz que “enquanto na UNITA havia predominância ovimbundu e na UPA/FNLA, bacongo, o MPLA queria estabelecer uma política que representasse várias etnias, a despeito da predominância mestiça e ambundo de sua liderança”. Este, portanto, configurou-se como primeiro passo do MPLA para o processo de busca pelo apoio popular. Ao procurar formas de ligar à diversidade de seu povo, consequentemente, o movimento acabou por ser visto como um potencial representante dos angolanos.
Neste cenário, aparece a monarca Ginga Mbandi. Fonseca (2012) salienta que a figura da rainha seiscentista serviu muito bem ao propósito do MPLA pelo fato desta ter comandado povos diversos. Como o objetivo político do MPLA era um governo pautado na pluralidade étnica, a referência à monarca configurou-se como uma excelente estratégia. A esta altura, a figura de Ginga já era muito cara para os angolanos, desta forma só seria preciso encontrar uma forma de ligar o protagonismo dela ao MPLA. Os elos que foram utilizados entre ambos, portanto, foram a diversidade, a dinamicidade e a resistência ao poderio estrangeiro.
É necessário ressaltar que a Rainha Ginga, devido a sua importância, também foi reverenciada pela UNITA como uma grande figura nacionalista (FONSECA, 2012). Pelo citado movimento, a governança pluri-étnica não foi enfatizada como elemento a ser iluminado, porém, como já era uma figura reconhecida pelo povo angolano e símbolo da resistência, acabou sendo adotada como elemento simbólico de luta. Assim, a figura da Rainha Ginga acabou sendo a única a ser homenageada pelas “[...] duas principais correntes nacionalistas de Angola [...]” (WALDMAN, 2018, p. 25). De certa forma, ao demonstrarem reconhecimento profundo à figura de Ginga, tanto o MPLA quanto a UNITA demonstraram que a importância da monarca estava acima das diferenças políticas internas, pois ela representava a resistência ao inimigo externo. Desta forma, Ginga, mais uma vez, apareceu como um elemento de convergência, apesar do contexto de divergência.
A luta pela independência culminou na liberdade de Angola no ano de 1975. Após o memorável acontecimento, houve as eleições nas quais o MPLA, pela sua atuação que visava um governo plural, compôs mais de 80% do congresso e elegeu o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. A UNITA, por não aceitar a massacrante perda, atacou o MPLA através de violentos conflitos armados. Schubert (2013, p. 79) diz que, após a conquista da independência, as duas polaridades políticas angolanas “– o formalmente marxista, Movimento Popular para a Libertação de Angola (mpla) [...] e o grupo «rebelde» da União Nacional para a Independência Total de Angola (unita) – envolveram-se numa tremenda e quase ininterrupta luta pelo controlo do país”.
As palavras de Schubert continuam sendo atuais, pois o governo de Angola ainda se encontra centralizado nas mãos do MPLA. Segundo o autor, a guerra civil angolana teve uma duração de quase trinta anos, e só terminou no ano de 2002 com a morte de um dos seus principais líderes, Jonas Malheiros Savimbi. Após o ocorrido, foi assinado um tratado de paz que, em tese, resolveu parte da situação sociopolítica do país. A luta entre as partes, depois disso, partiu para o campo ideológico, sendo perceptíveis os ataques verbais e as acusações de corrupção (SCHUBERT, 2013).
Fonseca (2012, p. 91) faz referência ao pronunciamento do primeiro presidente de Angola, Antônio Agostinho Neto, através de registro feito pela professora do departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, Rita Chaves. O presidente disse que “a história de nossa literatura é testemunho de gerações de escritores que souberam, na sua época, dinamizar o processo de nossa libertação, exprimindo anseios de nosso povo, particularmente o das suas camadas mais exploradas” (CHAVES, 1999, p. 32). As palavras de Agostinho Neto são muito relevantes, pois confirmam o caráter social e político da literatura angolana como elemento constituinte da identidade nacional. Percebe-s que a arte literária foi utilizada por escritores angolanos como forma de disseminação do conhecimento sobre a história da pátria, sobre as lutas de resistência, mas, acima de tudo isso, como uma forma de conquistar o protagonismo da própria história através do questionamento ao que foi historicamente estabelecido pelas mãos europeias.
Dentre os escritores que souberam “dinamizar” a independência angolana, mencionados por Agostinho Neto, encontra-se Pacavira. Neste cenário, então, não somente Nzinga Mbandi (1975) aparece como uma obra literária de cunho político, mas sim a produção do autor como um todo. Pacavira contribuiu com o processo de construção de uma identidade angolana genuína, para a qual as suas obras aparecem como fonte de questionamentos e até mesmo informações consistentes. Por ser um ativista político, o autor também buscou formas de iluminar o seu partido de afiliação – MPLA – como uma importante organização nacionalista. Pacavira foi um dos maiores responsáveis pela reformulação da Rainha Ginga como heroína nacional, dada a importância do seu romance histórico que leva o nome da monarca (1975), assim como também foi um agente central para o processo de ligação do nome da soberana ao movimento de sua afiliação.
Ainda nos dias de hoje, percebe-se uma forte ligação entre o MPLA e a figura da Rainha Ginga. O site do partido é uma das plataformas digitais angolanas que mais apresentam matérias que resvalam no nome da monarca, sempre exprimindo palavras de apreço e consideração pelo seu protagonismo heróico. Quando houve o lançamento do filme “Njinga, Rainha de Angola”, produzido pela Semba Comunicação, o evento foi amplamente divulgado pelo site, cobrindo a sua apresentação nos Estados Unidos, Brasil, Portugal e na própria Angola. A elaboração de Ginga como heroína nacional continua acontecendo através de outros tipos de recursos e expressões humanas na atualidade.
Referência
ARISTÓTELES. A Política. in Coleção Livros que Mudaram o Mundo. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010.
CHAVES, Rita. A Formação do Romance Angolano. São Paulo: Via Atlântica, 1999.
FONSECA, Mariana Bracks. Nzinga Mbandi e as guerras de resistência em Angola. Século XVII. São Paulo, USP, 2012. Dissertação (Mestrado em História Social) - Universidade de São Paulo, 2012. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-14032013-094719/publico/2012_MarianaBracksFonseca.pdf Acesso em: 14/09/2020.
FRAZER, James George. Tempo antigo: O ramo de ouro. São Paulo: Círculo do Livro, 1978.
MPLA. Movimento Popular de Libertação de Angola. 2020. Disponível em: http://mpla.ao/ Acesso em: 12/10/2020.
PACAVIRA, Manuel Pedro. Nzinga Mbandi. 3. ed. Cuba: União dos Escritores Angolanos, 1975.
SCHUBERT, Jon. «Democratização» e consolidação do poder político em Angola no pós-guerra. Relações Internacionais. (37), 2013. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n37/n37a07.pdf Acesso em: 11/10/2020
UNITA. União Nacional para a Libertação Total de Angola – Angola. 2020. Disponível em: http://www.unitaangola.com/PT/PrincipNouvP0.awp Acesso em: 02/10/2020
WALDMAN, Maurício. A memória Viva da Rainha Ginga. Série Africanidades, nº 21. São Paulo - SP: Editora Kotev, 2018.
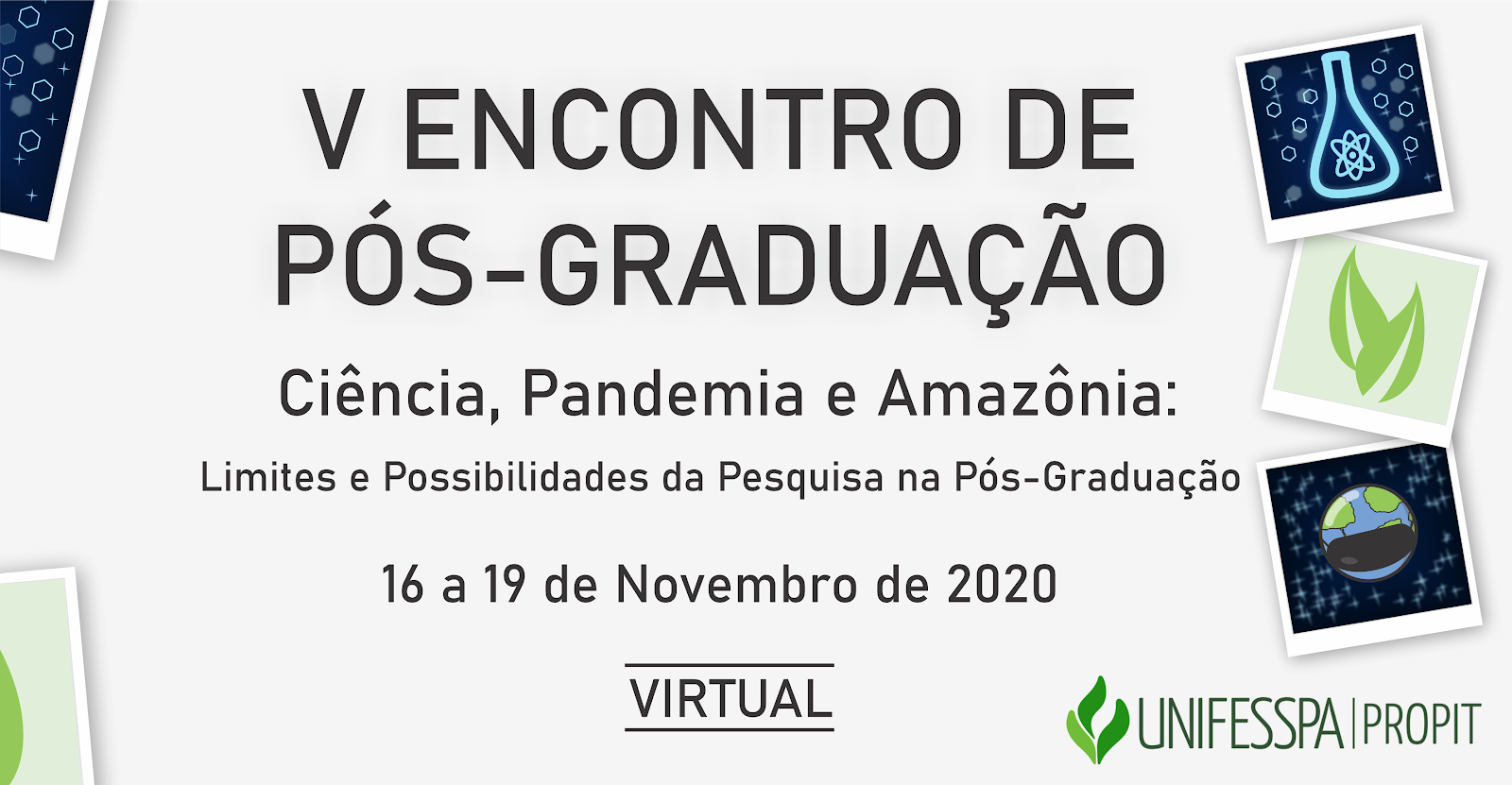
Boa noite. Muito interessante a sua pesquisa. A palavra Ginga se popularizou na capoeira de angola, e a estratégia de guerrilha dos quilombos usada pelos guerreiros da rainha foi também empregada no Brasil. Você pretende pesquisar as influências da rainha Ginga como símbolo não apenas nacional de Angola, mas da resistência negra para além do país?
ResponderExcluirJosiclei de Souza Santos.
Oi, Josiclei! Obrigado pelas palavras! Eu pretendo sim continuar pesquisando sobre a Rainha Ginga e a influência dela não apenas em Angola, mas também estender à Diáspora. Ginga é um universo! Um abraço!
ResponderExcluir