RACISMO, HISTÓRIA E MEMÓRIA: RASTROS DE MEMÓRIAS DA HISTÓRIA NA PEÇA “TRAGA-ME A CABEÇA DE LIMA BARRETO”
Maria da Conceição Gonzaga de Resende Lino
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis – orientadora
Universidade Federal de Lavras - UFLA
RESUMO
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar como a obra teatral “Traga-me a cabeça de Lima Barreto” lança mão da memória individual do escritor para identificar rastros na história nacional do início do século XX como perpetuadores do racismo estrutural na sociedade brasileira, dentre eles, o movimento eugenista brasileiro. Foi um movimento que se dizia científico, racista, do início do século XX. Acalentada pela ideia de que a modernização do país dependia de amplas reformas sociais com relação a saúde pública, educação e formação racial, a elite política e intelectual brasileira do final da década de 1910 visava construir uma identidade nova para o povo brasileiro, que deveria sofrer um processo de branqueamento a partir da miscigenação com imigrantes europeus. Assim, os ideais eugênicos rapidamente tiveram muitos adeptos devido, principalmente, à ideia de branqueamento da população do país, a partir do controle das políticas imigratórias e do processo de miscigenação. Foi nesse contexto que a Associação Paulista de Medicina e a Sociedade Paulista de Eugenia promoveram o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1929, que contou com a participação de diversos intelectuais, inclusive representantes de outros países da América do Sul. Foi buscando esse cenário que o dramaturgo Luiz Marfuz criou o espetáculo “Traga-me a cabeça de Lima Barreto”, de 2015. A peça situa dois acontecimentos no mesmo espaço temporal, uma vez que a narrativa acontece durante o Congresso Brasileiro de Eugenia que aconteceu sete anos após a morte do escritor, que tem seu corpo exumado e seu crânio analisado pelos eugenistas. A finalidade da autópsia seria responder à seguinte pergunta dos eugenistas: “Como um cérebro considerado inferior poderia ter produzido uma obra literária de porte se o privilégio da arte nobre e da boa escrita é das raças tidas como superiores?” A partir desse questionamento, a peça mostra múltiplas características da personalidade e da genialidade de Lima Barreto e reflete sobre a loucura, o racismo, a eugenia, a obra não reconhecida de Lima e os enfrentamentos políticos e literários de sua época no Rio de Janeiro, durante a Primeira República (1889-1930). Ao discutir eugenia e racismo a partir da obra de Lima Barreto, em uma narrativa bibliográfica, Luiz Marfuz lança mão da metaficção segundo o conceito de Hutcheon (1991), na medida em que evidencia fragmentos de uma vida atravessada por mazelas sociais, como preconceito racial, discriminação e alcoolismo, vivida pelo escritor Lima Barreto, em um período que a história do Brasil passava por mudanças importantes, como industrialização e processo de urbanização. A peça permite, ainda, uma leitura de como o racismo estrutural no Brasil impactou na recepção crítica da obra de Lima Barreto na primeira metade do século XX.
Palavras-chave: Eugenia. Racismo. Memória. Lima Barreto.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O espetáculo “Traga-me a cabeça de Lima Barreto” foi escrito pelo dramaturgo Luiz Marfuz, especialmente para o ator Hilton Cobra, em comemoração aos seus 40 anos de carreira, aos 15 anos da Cia. Dos Comuns (da qual Hilton Cobra é diretor) e aos 135 do nascimento de Lima Barreto; com direção de Fernanda Júlia (do Grupo Nata de teatro, da Bahia). A peça estreou em 2015 e foi contemplada com o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz.
O dramaturgo Luiz Marfuz, afirmou que foi um grande desafio encontrar um equilíbrio entre a eugenia e a vida e obra do escritor pois, embora tenha defendido “ideias humanistas, com doses de anarquismo e socialismo, posicionando-se contra a política, os governantes, o sistema econômico, as injustiças sociais, a questão da eugenia não foi tratada por ele de forma direta e aberta” (MARFUZ, 2020).
Segundo Hilton Cobra (2020), é importante e oportuno discutir eugenia e racismo a partir de Lima Barreto, especialmente, nesses tempos de pandemia, onde a população negra é a mais atingida; tempos também de “amplo debate sobre racismo, principalmente depois de George Floyd” (Cidadão negro norte-americano, assassinado em Minneapolis (EUA), no dia 25 de maio de 2020 (dia em que se celebra o dia de África), estrangulado por um policial branco que ajoelhou-se em seu pescoço durante uma abordagem por supostamente usar uma nota falsificada de US$ 20).
Cobra afirma, ainda, que “também é um reconhecimento à Lima – um autor pisoteado, injustiçado, que abriu na literatura brasileira ‘a sua pátria estética’ os pisoteados, loucos, os privados de liberdade”. Em sua opinião, Lima Barreto foi, se não o primeiro, um dos primeiros autores brasileiros que colocaram esse ‘submundo’ em qualidade e com importância dentro de uma obra literária. É bom ressaltar que “como George Floyd, Lima Barreto nunca conseguiu respirar livremente, mas ainda assim produziu uma das obras mais geniais e consistentes do Brasil pós-império” (COBRA, 2020).
Assim, essa obra teatral é uma provocação que traz a oportunidade de refletir sobre a literatura de Lima Barreto e seu discurso político, bem como seu impacto na sociedade da época e na sociedade atual.
1 HISTÓRIA DA EUGENIA NO BRASIL
De acordo com Wegner e Souza (2013), a divulgação das ideias eugênicas no Brasil aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, época em que o cenário nacional era de grandes mudanças e debates sobre o futuro racial do país. Acalentada pela ideia de que a modernização do país dependia de amplas reformas sociais com relação a saúde pública, educação e formação racial, a elite política e intelectual do final da década de 1910 visava construir uma identidade nova para o brasileiro, transformando a figura do “Jeca doente e preguiçoso, como definiu Monteiro Lobato, em um Jeca bravo e trabalhador que devia sofrer um processo de branqueamento a partir da miscigenação com imigrantes europeus” (p. 264). Nesse contexto, os ideais eugênicos rapidamente tiveram muitos adeptos devido, principalmente, à ideia de branqueamento da população do país.
Para a historiadora Nancy Stepan (2005, citada por Souza, 2007), a Sociedade Eugênica de São Paulo e a Sociedade Eugênica da Argentina, fundadas em 1918, foram motivadas pelo sentimento nacionalista que tomou conta da América Latina no período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial. A grande preocupação dos eugenistas era homogeneizar a “raça nacional”, ainda que fosse para criar uma identidade mestiça ou uma nacionalidade em processo de branqueamento.
Foi nesse contexto que a Academia de Medicina e a Sociedade Eugênica de São Paulo divulgaram o Congresso Brasileiro de Eugenia realizado na sede da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em julho de 1929, que contou com a participação de diversos intelectuais, inclusive representantes de outros países da América do Sul. Os participantes eram médicos, educadores, juristas, antropólogos, sociólogos e historiadores, os quais discutiram sobre temas que envolviam a seleção imigratória, o controle matrimonial, a educação sexual, o cuidado materno e infantil, a esterilização eugênica de ‘loucos’ e ‘criminosos’, a genética e a hereditariedade, a antropologia racial, a psiquiatria e a higiene mental, a educação e a higiene em geral (SOUZA, 2009).
O ESPETÁCULO “TRAGA-ME A CABEÇA DE LIMA BARRETO” E OS RASTROS DE MEMÓRIA DA HISTÓRIA
Ao trazer para o palco uma narrativa bibliográfica, Luiz Marfuz lança mão da metaficção, na medida em que evidencia fragmentos de uma vida atravessada por mazelas sociais, como preconceito racial, discriminação e alcoolismo, vivida pelo escritor Lima Barreto, na primeira República, período em que a história do Brasil passava por mudanças importantes, como industrialização e processo de urbanização.
Na definição da historiadora Linda Hutcheon (1991), metafcção são as obras narrativas da estética do pós-modernismo que têm como características recorrentes intensa auto reflexibilidade e referências a personagens e eventos históricos. A obra do escritor Lima Barreto é carregada de auto reflexibilidade, como exemplo, um trecho da obra Recordações do escrivão Isaías Caminha: “Quero ser Doutor! Resgataria o pecado original de meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, excruciante e oxímodo de minha cor, teria direito a prisão especial. Seria formado, ananubeto, sobrecasaca, cartola e, feito um sapo bufando a andar pelas ruas e o povo a dizer: Bom dia, doutor! Como é que vai, doutor! Uma dose de cafezinho, doutor? Ou um parati, doutor? [...] A narrativa ocorre em primeira pessoa e o autor coloca a personagem, desde muito jovem, a refletir sobre as discriminações que sofria devido a sua cor negra.
A metafcção pretende que o leitor (ou ouvinte, no caso) participe da produção e da recepção do texto como produto cultural (Hutcheon, 1991). Em determinado trecho da peça, o escritor Lima Barreto declara que ele, negro ou mulato, escritor de estirpe moral e intelectual, foi condenado, mas não se entregou ao desgosto e declarou que sua pátria estética era o povo degenerado, a raça degenerada, a arte degenerada, e que assim Hitler nomeará um dia os expressionistas, impressionistas, surrealistas, todos salvos em espírito, mas queimados na terra em nome de um ideal de beleza ariana. Esses e mais os loucos pisoteados, privados de liberdade e sanidade. “Esses serão os povoadores de minha pátria estética, uma terra de homens, mulheres e ancestrais, eu lutei tanto por isso na trincheira das letras, até que o álcool a loucura e a morte me tirassem de combate!” (MARFUS, 2015). A narrativa do personagem remete ao fato histórico do Holocausto, quando os corpos de milhares de judeus foram incinerados e remete também à Guerra, quando diz que lutou muito por isso na trincheira das letras. Além disso, o trecho leva o espectador a uma reflexão sobre os sofrimentos e lutas do autor mulato ou negro, que usa palavras fortes como condenado, lutei, combate, permitindo inferir que sua vida foi uma guerra, uma batalha, ou seja, auto reflexibilidade.
O forte trauma psicológico provocado pela discriminação racial que conduziu a vida do escritor Lima Barreto, levando-o a um processo de autodestruição foi ignorado pela sociedade da época, que preferiu ignorar a qualidade de sua obra, por ser ele da raça negra. Vale ressaltar que, da mesma forma, a raça negra do Brasil enfrenta uma dificuldade histórica, estrutural, vítima de um racismo velado, que sempre existiu, ofuscado pelo estigma da miscigenação. Nesse sentido, a peça traz algumas narrativas que remetem ao sacrifício do povo negro do Brasil. É o caso de quando o personagem Lima é questionado se tem religião e ele responde que não e, muito menos católico, pois a igreja católica é aliada do estado e que o papa Nicolau V abençoou a escravidão africana e o personagem fala para o público: “horror não tem limites, o primeiro passo é a melhoria, o segundo a purificação e depois vem o extermínio, milhares e milhares e milhões serão dizimados em nome da purificação racial. Gerações inteiras serão exterminadas em nome de guerras genocidas, patricidas, pesticidas. Corpos serão incinerados vivos e mortos boiarão na baía dos Bálcãs, filhos de nenhuma pátria e não haverá mais distinção entre céu e inferno porque quando deus atravessa a porta do inferno ele já está entre dos homens (MARFUZ, 2015).
Gagnebin (2006) afirma que a relação entre passado e presente é uma relação histórica e, portanto, pode-se escrever uma história da relação do presente com a memória do passado, ou seja, escrever uma “história da história. Dessa forma, o dramaturgo utiliza uma situação que ainda é atual, que é o racismo praticado no mundo inteiro, procura um rastro na história da Igreja Católica para nos remeter à lembrança de que, vários séculos depois, os povos africanos continuam escravizados pela pobreza, pela dominação, pela barbárie.
Walter Benjamin (citado por Gagnebin, 2006) diz que o narrador sucateiro não tem por alvo recolher os grandes feitos. Deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como se não fosse importante, algo com que a história oficial não sabe o que fazer, aquilo que não tem nome, aqueles que não têm nome, o anônimo, aquilo que não deixa nenhum rastro, aquilo que foi tão bem apagado que mesmo a memória de sua existência não subsiste.
Nessa perspectiva, pode-se dizer que o dramaturgo Luiz Marfuz escavou, rastelou e apanhou rastros na biografia de Lima Barreto, aparentemente sem importância, talvez porque era referente somente ao escritor e compôs um espetáculo com fragmentos de um período da história do Brasil, fragmentos esses que fazem com que os espectadores lembrem-se de fatos históricos importantes, como a influência que a teoria eugenista teve na reprodução e perpetuação do racismo e do padrão de beleza europeu como sendo o superior. Vasculhou os restos e rastros na bibliografia e na obra de Lima Barreto para compor sua narrativa com rastros da história deixados pela memória do escritor em suas obras, o que coaduna com Halbwachs (1990) quando afirma que a lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada” (p. 71).
Nesse sentido, a peça “Traga-me a cabeça de Lima Barreto” apresenta-se como proposta para se repensar o racismo, na medida em que a narrativa é capaz de colocar o espectador em atitude de reflexão incomodativa.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espetáculo “Traga-me a cabeça de Lima Barreto” dialoga principalmente com a obra do escritor “Recordações de Isaías Caminha” e com a obra “A vida de Lima Barreto”, de Francisco de Assis Barbosa. Mostrou o ideal racista da elite brasileira da primeira república e como o preconceito racial e o não reconhecimento de seu trabalho como escritor levaram Lima Barreto a um processo de auto destruição irreversível.
A obra teatral em sua narrativa, recorre à memória, por meio das obras do escritor e revela alguns rastros da construção da sociedade urbana do início do século XX. Carregada de ironia e, às vezes, humor, escancara a hipocrisia social, o preconceito racial e a perpetuação do racismo na sociedade brasileira.
REFERÊNCIAS
BARRETO, Afonso Henriques de Lima. Recordações do escrivão Isaias Caminha. São Paulo: Lafonte, 2019.
COBRA, Hilton. Depoimento do ator para o site: https://guianegro.com.br/peca-traga-me-a-cabeca-de-lima-barreto-sera-exibida-online-domingo/. Acesso em 18 agosto 2020.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.
HALBWACHS, Maurice. A Memória coletiva. Trad. de Laurent Léon Schaffter. São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais, 1990.
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
MARFUZ, Luiz. Rastros que Emulam Figuras: a montagem de Improviso de Ohio, de Samuel Beckett. Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre , v. 3, n. 2, p. 476-497, Aug. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-26602013000200476&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 18 Aug. 2020. https://doi.org/10.1590/2237-266037048.
SOUZA, Vanderlei Sebastião de et al . Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional: fontes para a história da eugenia no Brasil. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 16, n. 3, p. 763-777, Sept. 2009 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em> 17 Aug. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-59702009000300012
WEGNER, Robert; SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Eugenia 'negativa', psiquiatria e catolicismo: embates em torno da esterilização eugênica no Brasil. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 20, n. 1, p. 263-288, Mar. 2013 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702013000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 ago. 2020. Epub Feb 20, 2013. https://doi.org/10.1590/S0104-59702013005000001.
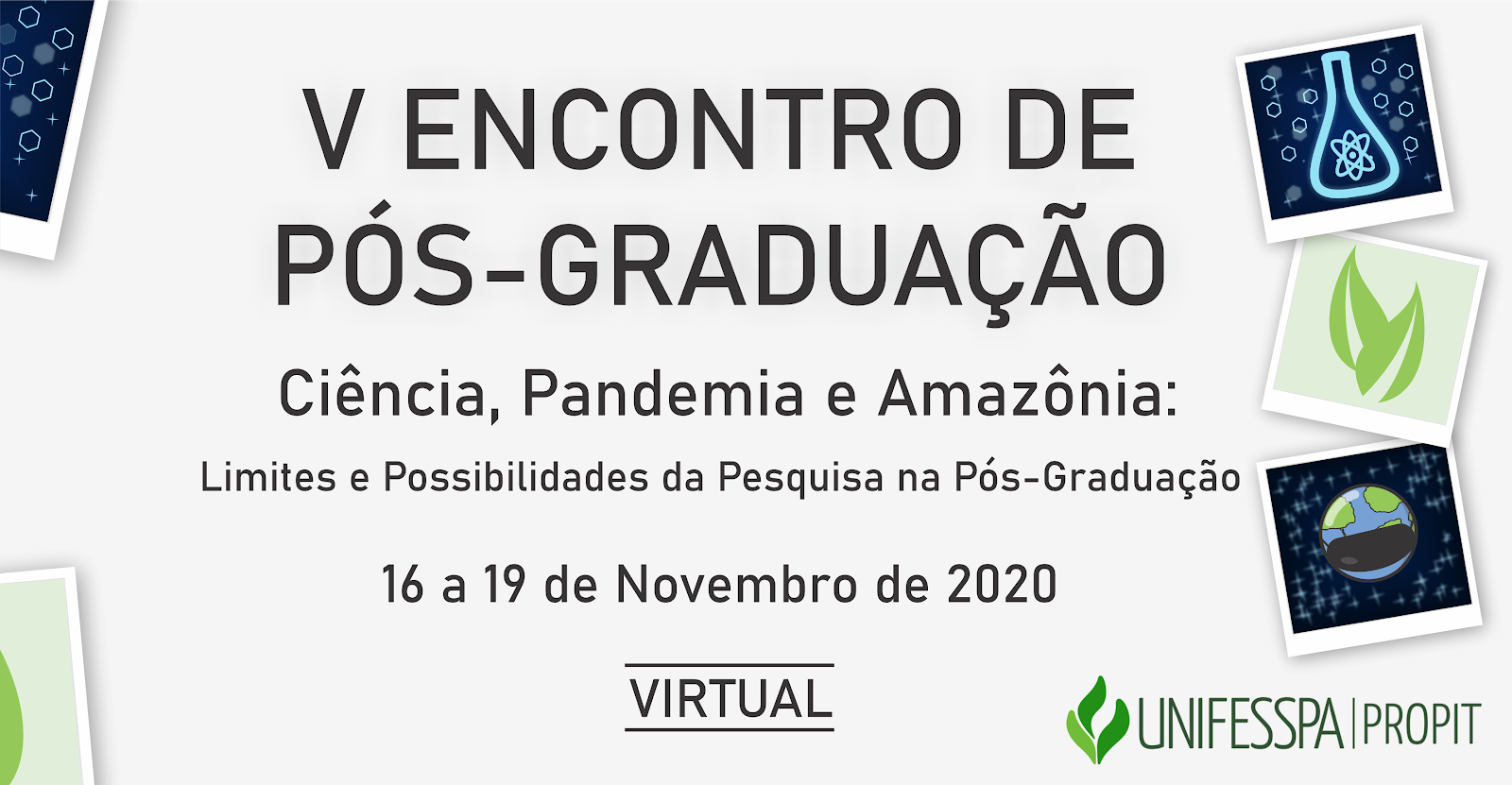
Comentários
Postar um comentário