“TUDO O QUE DIZIAM DA METRÓPOLE É MENTIRA”: OS RETORNADOS E A DEGRADAÇÃO DO IMPÉRIO PORTUGUÊS EM DULCE MARIA CARDOSO
Karol Sousa Bernardes; graduanda em Letras Português/Inglês e suas Literaturas na Universidade Federal de Lavras (UFLA); karolbernardes1999@gmail.com.
Roberta Guimarães Franco Faria de Assis; professora doutora do Departamento de Estudos da Linguagem da UFLA; robertafranco@ufla.br.
O Estado Novo português foi um regime marcado por discursos que exaltavam a imagem de Portugal, sobretudo como um país imperial. Essa perspectiva demarcava um aspecto da identidade da nação e foi explorada pelo salazarismo com o objetivo de alcançar um “fervor nacionalista” (LOURENÇO, 2016, p. 38). Assim, a noção de grandiosidade de Portugal era propagada tanto no espaço português quanto nas colônias em África. Com a independência delas em 1975, essa imagem imperial é abalada e o país necessita repensar a própria identidade. Lourenço (2016) expõe que os portugueses só irão ter consciência dessa perda quando os retornados chegam à terra lusitana, principalmente após a Revolução dos Cravos em 1974. A reintegração dessas pessoas na sociedade, que contabilizam mais de meio milhão, passa por diversos obstáculos, como a falta de moradia e de empregos, somado ao preconceito por serem vistas, por grande parte da população, como os “exploradores de negros, habituados à boa vida e servidos por um exército de criados domésticos” (GARCIA, 2012, n.p).
Diante desse cenário, a obra O retorno (2013), de Dulce Maria Cardoso, possibilita diferentes perspectivas para se contestar essa imagem de grandiosidade de Portugal, evidenciando a degradação do Império, bem como para se analisar o processo de ida para a ex-metrópole de milhares de portugueses que viviam em África. O romance é narrado por Rui, um adolescente que vai com a família para Portugal para fugir da violência da Guerra Colonial. Ele relata as diversas dificuldades enfrentadas por eles no processo e, ao chegar em Portugal, choca-se ao perceber que o país não era condizente com as narrativas de grandiosidade que ouvia e estudava sobre à terra lusitana. Essa chegada é demarcada em uma página, cuja única frase inscrita é “Então a metrópole afinal é isto” (CARDOSO, 2013, p. 65), o que denota o desapontamento de Rui logo na primeira impressão do espaço português, e que perdura durante a narrativa, como podemos observar em:
“Portugal não era um país pequeno, era o que estava escrito no mapa da escola, Portugal não é um país pequeno, é um império do Minho a Timor. A metrópole não pode ser como hoje a vimos no caminho que o táxi fez, ninguém nos ia obrigar a cantar hinos aos sábados de manhã se a metrópole fosse tão acanhada e sua com ruas tão estreitas onde parece que nem cabemos” (CARDOSO, 2013, p. 83).
Nesse trecho, também podemos destacar o papel que a educação tinha no período do Estado Novo. Ela era importante, como exprime Fernando Rosas (2018), na propagação das ideologias do regime. Havia, assim, uma vigilância em relação aos professores contratados, aos livros utilizados, às atividades escolares pedidas, entre outros aspectos, e que ocorria através do Ministério da Educação Nacional (MEN). Além da educação, esse projeto de inculcação ideológica, segundo Rosas (2018), encontrava-se em outros setores, como nos locais de trabalho e nas famílias. Rui, que durante toda a sua vida havia ouvido sobre a grandiosidade de Portugal, ao se encontrar na ex-metrópole, declara também: “Tudo o que diziam da metrópole é mentira” (CARDOSO, 2013, p. 234). Os discursos de exaltação do país passam, desse modo, a serem vistos por ele como falsos e incoerentes.
No que se refere ao pós-25 de abril de 1974, é válido ressaltar as narrativas acerca dos retornados. Segundo Rita Garcia (2012), eles foram obrigados a deixarem a vida que construíram nas colônias em África para enfrentarem um futuro incerto em Portugal. O primeiro obstáculo que tiveram que encarar, de acordo com Roberta Franco (2019), foi a saída do continente africano, visto que havia um grande contingente de pessoas tentando fugir daquele contexto de Guerra Colonial: “há centenas de pessoas à nossa volta, centenas ou milhares, não sei, nunca vi tanta gente junta, nunca vi uma confusão tão grande, tantas malas e tantos caixotes, tanto lixo, lixo, lixo e mais lixo” (CARDOSO, 2013, p. 59). Não havia passagens suficientes, e esse fator indica, dentre tantos outros, um grande despreparo do governo português, como aponta Roberta Franco (2019).
Somado a isso, ao chegarem, os deslocados passam por diversas dificuldades, como em relação à moradia e a emprego. Conforme Rita Garcia (2012), eles eram orientados a procurar familiares que os pudessem acolher, e aqueles que não tinham parentes no país eram alocados em alojamentos temporários, como hotéis e pensões, até terem condições de se estabelecer em outro lugar. Esse foi o caso de Rui e de sua família, que ficaram em um hotel: “Ser retornado de hotel também é mau porque quer dizer que não há sequer um familiar que goste de nós o suficiente para nos querer em casa” (CARDOSO, 2013, p. 124). Nesse contexto, muitos retornados dependiam da ajuda do Estado e medidas foram criadas para tentar controlar os impactos da chegada de mais de meio milhão de pessoas em Portugal, como o Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais (IARN):
“Em quase todas as respostas uma palavra que nunca tínhamos ouvido, o IARN, o IARN, o IARN. O IARN paga as viagens para a terra, o IARN põe-nos em hotéis, o IARN paga o transporte para os hotéis, o IARN dá-nos comida, o IARN dá-nos dinheiro, o IARN ajuda-nos, o IARN aconselha-nos, o IARN pode informar-nos. Nunca tinha ouvido tantas vezes uma palavra, o IARN parecia mais importante e mais generoso do que deus. Explicaram-nos, IARN quer dizer Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais” (CARDOSO, 2013, p. 77).
Entretanto, esses planos de ação não foram suficientes, como expõe Garcia (2012). Os alojamentos alcançaram uma superlotação e as condições eram desfavoráveis: “quartos sobrelotados que não oferecem condições mínimas aos que neles têm de habitar, esperas para todas as refeições que chegam às duas horas [...], a comida de péssima qualidade, prova da falta de consideração com que somos tratados” (CARDOSO, 2013, p. 118). Somado a isso, para além das dificuldades relacionadas ao âmbito econômico mais propriamente, o maior problema enfrentado pelos deslocados, como aponta Roberta Franco (2019), foi a “readaptação identitária” (p. 95).
Nesse sentido, os portugueses, quando estavam em África, “tornaram-se alvo dos ressentimentos de muitos africanos, ou seja numa espécie de bode expiatório das desigualdades, do racismo e das injustiças produzidas pelo colonialismo português” (PIMENTA, 2017, p. 123). Ao chegarem em Portugal, como destaca Rita Garcia (2012), foram alvo de desconfianças: “quem cá estava estranhava o sotaque, as roupas, a abertura de espírito e até os hábitos culturais de quem chegava” (GARCIA, 2012, n.p). Somado a isso, ainda segundo a autora, o país enfrentava uma grave crise econômica nesse contexto pós Estado Novo e os portugueses viam os deslocados como “adversários dispostos a roubar-lhes trabalho, habitação e dinheiro” (GARCIA, 2012, n.p). Além de impactar na economia de Portugal, a chegada dos retornados representava o fim do Império português: “Estavam lá retornados de todos os cantos do império, o império estava ali, naquela sala, um império cansado, a precisar de casa e de comida, um império derrotado e humilhado, um império de que ninguém queria saber” (CARDOSO, 2013, p. 86).
Havia, assim, muito preconceito contra eles e o próprio termo “retornado” passou, conforme Garcia (2012), a ter um peso insuportável: “Agora somos retornados. Não sabemos bem o que é ser retornado mas nós somos isso. Nós e todos os que estão a chegar de lá” (CARDOSO, 2013, p. 77). Essa discriminação dificultou ainda mais a readaptação deles na sociedade portuguesa, de modo que muitos não conseguiram, ainda de acordo com Garcia (2012), adaptar-se à vida em Portugal. Eles eram, segundo ela, vistos como “portugueses de segunda” (GARCIA, 2012, n.p), de modo que “[...] as famílias da metrópole ficam satisfeitas com o castigo que se abateu sobre os exploradores dos pretos” (CARDOSO, 2013, p. 166). Também podemos observar esse preconceito em relação aos retornados em:
“A puta da professora, um dos retornados que responda, como se não tivéssemos nome, como se já não bastasse ter-nos arrumado numa fila só para retornados. A puta a justificar-se, os retornados estão mais atrasados, sim, sim, devemos estar, devemos ter ficado estúpidos como os pretos, e os de cá devem ter aprendido muito depois da merda da revolução, se for como em tudo o resto devem ter tido umas lindas aulas” (CARDOSO, 2013, p. 139-140).
A obra O retorno (2013) apresenta, portanto, diferentes tensões desse momento posterior à Revolução dos Cravos, sobretudo através da perspectiva dos retornados, e que perpassam também as narrativas relacionadas ao Estado Novo. Assim, o romance de Dulce Maria Cardoso possibilita problematizações acerca do regime e de seus discursos, como essa noção de grandiosidade de Portugal. Somado a isso, a obra expõe a situação de Rui e da família, os obstáculos que enfrentaram na readaptação no espaço português, e esse cenário foi vivenciado por muitos retornados. Com base nesses aspectos, pode-se considerar que o romance representa a memória coletiva dos deslocados nesse contexto, expondo os restos e as ruínas do Império português, marcado por problemas econômicos e sociais.
Referências
CARDOSO, Dulce Maria. O retorno. Rio de Janeiro: Tinta da China, 2013.
GARCIA, Rita. Os que vieram de África: o drama da nova vida das famílias chegadas do ultramar. Alfragide: Oficina do Livro, 2012. E-book. ISBN: 9789895560110. Não paginado.
FRANCO, Roberta Guimarães. Memórias em trânsito: deslocamentos distópicos em três romances pós-coloniais. São Paulo: Alameda, 2019.
LOURENÇO, Eduardo. O labirinto da saudade. Ed. Rio de Janeiro: Tinta da China: 2016.
ROSAS, Fernando. Salazar e o poder. A arte de saber durar. Lisboa: Tinta da China, 2018.
PIMENTA, Fernando Tavares. Causas do êxodo das minorias brancas na África portuguesa: Angola e Moçambique (1974/1975). Revista Portuguesa de História. Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017, v. 48, p. 99-124.
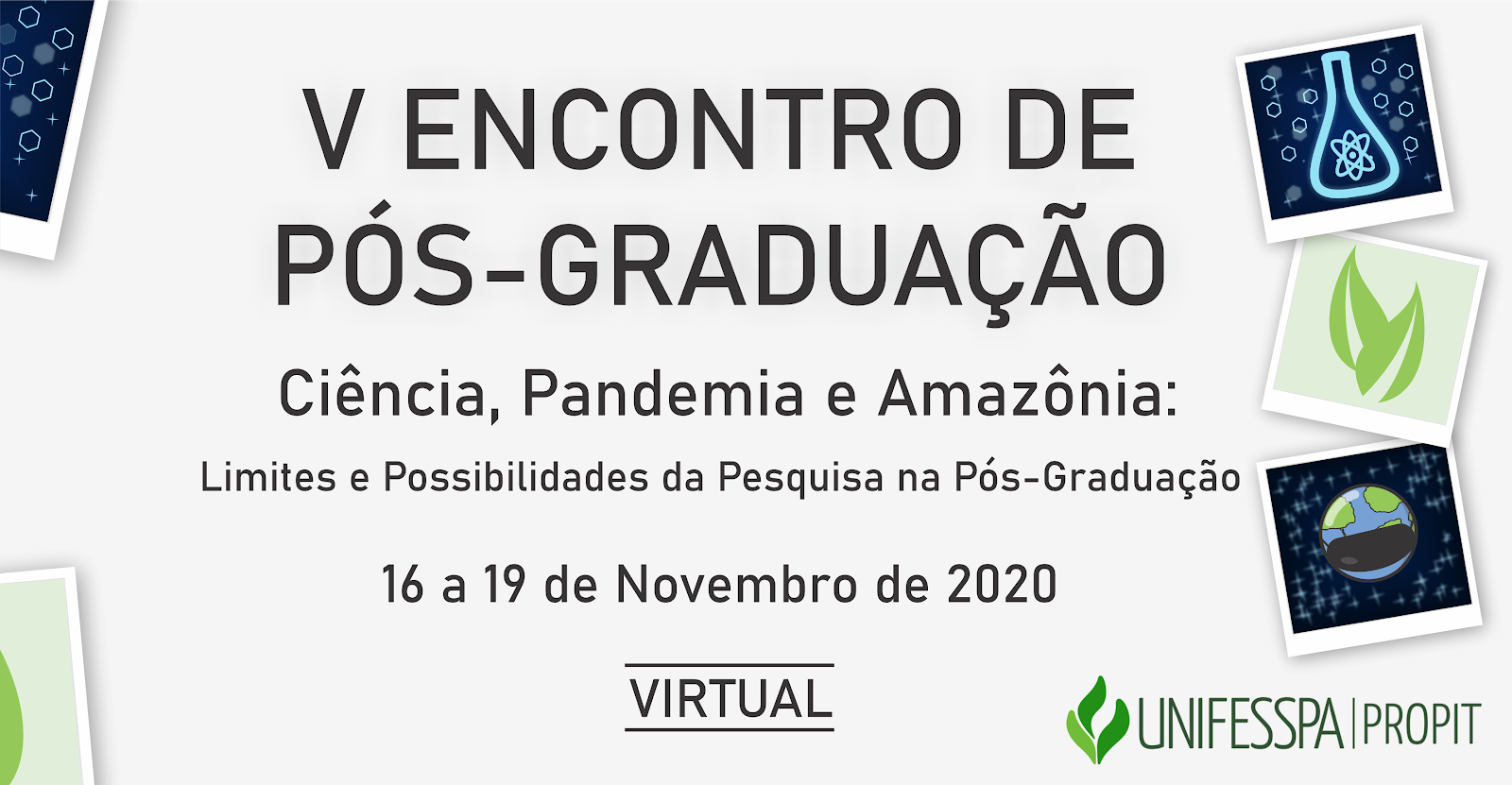
Comentários
Postar um comentário